5. Descobrindo algumas armadilhas (III)
Ler do Início
28.10.2024 | 10 minutos de leitura

Evangelho do Cuidado
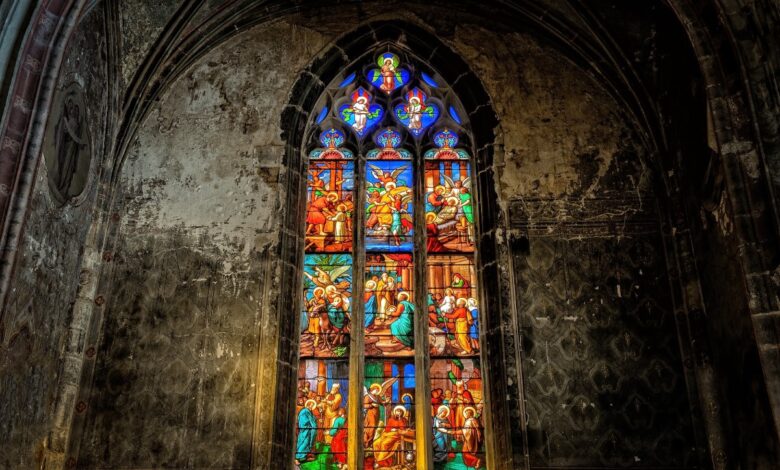
“Os olhos são a lâmpada do corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz.
Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Portanto, se a luz que está em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas!”
(Mt 6,22-23)
Na semana passada, começamos a enumerar algumas “armadilhas” que determinaram certos olhares e certos discursos que surgiram na Igreja como reação às denúncias de abuso, sobretudo sexual, desde que, por seu número e gravidade, se tornaram pauta eclesial e social. Esses discursos, de forma mais sutil ou mais explícita, operaram (e, em certa medida, ainda operam) uma espécie de “mecanismo de defesa” da comunidade eclesial ou da instituição Igreja contra a constatação da ocorrência dos abusos e sua caracterização como fenômeno estrutural1, conhecido pela hierarquia eclesiástica e historicamente tratado com silêncio cúmplice e leniente. Seguindo a reflexão proposta por Pe. Amedeo Cencini2, já falamos sobre a “deslocalização geográfica”, a redução “clínico-patológica” e o “juízo moralista-espiritualista”. Tomemos mais alguns exemplos desses discursos.
Teoria do complô: “Isso é um complô de acusações falsas interessadas em dinheiro e de meios de comunicação oportunistas”. Fundamentalmente, todo canal de recepção de denúncias conduz a um sistema de verificação das informações prestadas e de consequente investigação, exatamente para evitar a proliferação de denúncias falsas. Por isso mesmo, admitir a possibilidade de que existam denúncias falsas não serve de justificativa para paralisar os canais de recepção dessas denúncias, nem para desacreditar os processos de investigação. Pelo contrário, serve para encorajá-los a exercer seu papel, ainda com mais rigor. Note-se, porém, que no caso específico de denúncias de abuso em ambientes eclesiais, sobretudo de abuso sexual, o índice de denúncias falsas tem se mostrado pouco mais que irrisório3. As razões são evidentes: via de regra, levantar uma acusação contra um clérigo ou um religioso, que por natureza de seu ofício possuem alto grau de credibilidade da comunidade e de prestígio social, lança imediatamente sobre o próprio denunciante a sombra da desconfiança e a suspeita da fraude. Outra constatação interessante no acompanhamento (inclusive jurídico) das vítimas é que, raramente, suas expectativas frente à Igreja se referem a algum tipo de compensação financeira. Em geral, quando perguntadas sobre “o que desejam da Igreja”, são duas as respostas mais repetidas: (1) que a Igreja admita que o abuso aconteceu, contrariando a lógica usual da negação e do silenciamento, e (2) que ela se assegure de que não voltará a acontecer 4. Por fim, sobre os meios de comunicação, é possível encontrar exemplos de situações em que os canais de informação modificaram ou deturparam informações em desfavor das instituições eclesiais. Mas são mais numerosos os exemplos de quando o escândalo midiático foi a única ferramenta disponível para visibilização do abuso no ambiente eclesial, uma vez que a vítima não encontrou na Igreja institucional canais funcionais de recepção de denúncias, quanto menos a segurança de processos isentos para investigação e responsabilização; nem políticas efetivas de prevenção e de reparação; ou nem mesmo empatia suficiente para uma escuta ativa e um acompanhamento adequado5. O escândalo, com certeza, gera sofrimentos, mas o encobrimento silencioso não diminui a dor de quem sofreu o abuso. Afirmar o contrário pode fazer parecer que o problema não é propriamente o abuso, mas simplesmente o fato de torná-lo conhecido.
Culpa do passado: “O problema é [tão somente] a formação dos clérigos nos seminários”. É fato que temos um problema formativo na Igreja. E a discussão sobre o quanto o modelo seminarístico, nascido no séc. XVI, responde ou não às exigências formativas do nosso tempo é bastante ampla e interessante6. Também é notório, porque aparece no depoimento de vítimas e de agressores, que o ambiente seminarístico ou de formação inicial à vida religiosa foi o primeiro no qual os abusos foram praticados ou testemunhados por essas pessoas. Os próprios procedimentos disciplinares dos ambientes formativos estão, por vezes, determinados por princípios que promovem a infantilização de formandos/as e naturalizam posturas abusivas por parte de formadores/as. “Aprendi o que significava abuso de poder no seminário, mas só depois fui capaz de dar esse nome; o mesmo aconteceu com o abuso sexual do qual fui vítima ali”, me dizia recentemente um sobrevivente. Mas restringir o problema à formação inicial ou ao seminário é um equívoco fatal no enfrentamento dos abusos em ambientes eclesiais. Pesquisas recentes têm demonstrado que, diferente do que ocorre em outros ambientes sociais (como na família, por exemplo), o agressor clérigo ou religioso/a comete seu primeiro delito tipificado relativamente “tarde”, fora das etapas iniciais da formação, sobretudo ao longo dos 10 primeiros anos após a ordenação presbiteral ou a profissão perpétua7. Coincide com o período de maior índice percentual de abandonos do ministério e da vida religiosa. Agressores reiterados relatam que se aprofundaram na realidade do abuso valendo-se de elementos como (1) o não acompanhamento/supervisão por parte de quem era de direito; (2) a gestão absolutamente individual do tempo e o acesso fácil a recursos financeiros, sem necessidade de prestação de contas; (3) o completo silêncio sobre o tema por parte de suas instituições eclesiásticas – “isso não acontece entre nós, então não precisa ser tematizado”; entre outras características comuns à vida clerical/religiosa. Ou seja, para além do tema da formação inicial e seminarística, certamente necessário e urgente, mostra-se igualmente decisivo o tema da formação continuada (ou permanente) dos ministros ordenados e dos membros de vida religiosa. Um olhar sobre os projetos formativos de dioceses e congregações revela que a maioria dessas instituições carece de um projeto de formação permanente minimamente organizado, ou realiza apenas ações esparsas, sem qualquer política de acompanhamento de seus membros após a ordenação presbiteral ou os votos perpétuos.
Números pequenos: “Mas também não é para tanto, os abusos acontecem em número reduzido e, ademais, sempre foi assim na Igreja, como é em todo lugar”. Em primeiro lugar, é verdade que é difícil fixar uma cifra ou um percentual exato sobre a ocorrência dos abusos sexuais em ambientes eclesiais. Em parte, porque números oficiais, em sentido estrito, em nível da Igreja inteira, ou não existem, ou não são públicos8. Além disso, os sucessivos relatórios nacionais produzidos em países como Estados Unidos, Austrália, Espanha, Portugal e Chile trazem entre si discordâncias metodológicas que impedem seu agrupamento sob uma única estatística. De todo modo, considerando os fatores já tratados e o longo tempo que costumeiramente separa a deflagração do abuso e sua denúncia, não é leviano supor um índice significativo de subnotificação. Ou seja, os casos denunciados e julgados representariam apenas parte do problema. Em segundo lugar, o abuso sexual é apenas uma face do delito. Em Vos Estis Lux Mundi (2023), o Papa Francisco adota a tipologia de abusos “sexuais, de consciência e de poder”, sendo que geralmente o abuso sexual pressupõe a deflagração prévia desses outros dois. Assim, se as notificações de abuso incluírem não apenas os “delitos contra o sexto mandamento” (abusos sexuais) mas também os “abusos de poder no exercício das funções eclesiásticas”, como já previsto pelo Direito Canônico, as estatísticas certamente sofrerão uma mudança muito significativa. Além disso, os abusos perpetrados em ambientes eclesiais dialogam não com qualquer tipo de poder ou influência, mas com o poder religioso e sua imensa capacidade de mobilizar os afetos, as convicções e a vontade das pessoas. Nessa singularidade, o abuso eclesial se torna potencialmente mais destruidor do que aqueles praticados em outros ambientes – o que, por si só, já justifica o empenho da prevenção.
________________
1 O uso das expressões “estrutural” e “sistêmico” merece uma nota. Utilizados aqui como sinônimos, querem expressar uma caracterização do fenômeno dos abusos em ambientes eclesiais como algo não ocasional, nem excepcional, nem eventual. Pelo contrário, pretende defini-lo como um fenômeno abrangente e que dialoga muito intimamente com a estrutura mesma da instituição Igreja. E que, justamente por isso, se torna tão frequente, com exemplos tão abundantes, embora pouco visibilizados, quase naturalizados no cotidiano da “estrutura” ou do “sistema” institucional. No Brasil, essas realidades silenciosamente imbricadas nos mecanismos culturais e sociais têm sido chamadas de “estruturais” (cf. por exemplo “machismo estrutural”, “racismo estrutural” etc.). É nesse mesmo sentido que dizemos que o abuso em ambientes eclesiais se revelou um fenômeno “estrutural” (ou “sistêmico”, se preferir).
2CENCINI, Amedeo. ¿Ha cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos sexuales?: Análisis y propuestas para la formación. Madrid: Sígueme, 2016.
3 Cf. por exemplo o estudo apresentado por: CELIS, Ana María (coord.). El Abuso Sexual en Contextos Eclesiales: análisis del caso chileno – aprendizajes y desafíos. Madrid: PPC Editorial, 2024. p. 99ss.
4 Cf. Ibid. p. 146ss.
5Afirmações como essas podem ser encontradas nas narrativas de muitas vítimas. Um exemplo emblemático é o de David Pérez Ortiz, que foi presbítero da Diocese de Torreón, no México. Ele mesmo conta que, antes de tornar públicos os abusos que teria sofrido no seminário, buscou todas as vias institucionais e canônicas para alguma reparação. Mesmo tendo recorrido à Cúria Romana, não conseguiu sequer que sua diocese reconhecesse a ocorrência de tais abusos. O caso ganhou repercussão nos meios de comunicação mexicanos, no primeiro semestre de 2024 (cf. por exemplo: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2024/exsacerdote-revela-detalles-del-abuso-sexual-que-sufrio-en-seminario-de-torreon.html). Outro exemplo, muito mais próximo, é o de dezenas mulheres que sofreram abuso, quando crianças, por parte de um então presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte. O caso foi investigado pela polícia e pela Igreja. O processo canônico foi concluído em 2021, com a demissão do acusado; mas não houve consequências penais civis em razão da prescrição dos crimes. Algumas dessas vítimas afirmam que suas famílias teriam procurado instâncias diocesanas na época dos acontecimentos, sem sucesso. Seus depoimentos podem ser encontrados no perfil de rede social, criado em 2024: https://www.instagram.com/vitimasdosantodoparaiso/. Recentemente, o surgimento de um novo caso, não prescrito, ocasionou a prisão preventiva do acusado.
6Cf. por exemplo: (1) BENELLI, Sílvio José. Pescadores de Homens: a produção da subjetividade no contexto institucional de um seminário católico. Disponível em: https://bv.fapesp.br/pt/dissertacoes-teses/84872/pescadores-de-homens-a-producao-da-subjetividade-no-context. Acesso em 25 out 2024. Ou também: (2) VEIGA, Alfredo César; ZACHARIAS, Ronaldo. Igreja e Escândalos Sexuais: por uma nova cultura formativa. São Paulo: Paulus, 2019. Ou ainda: (3) TREVIZO, Daniel Portillo. Formación y Prevención: la prevención de los abusos sexuales y los procesos formativos de la Iglesia. Bogotá: PPC Colombia, 2019.
7Esse dado é confirmado, por exemplo, pelo estudo minucioso feito pela John Jay Criminal College of Criminal Justice, produzido por solicitação da Conferência Episcopal dos Estados Unidos e apresentado em 2011 (disponível em https://johnjay.jjay.cuny.edu/newsroom/4688.php). Mas reaparece no estudo recente do caso chileno, já citado, publicado sob a coordenação da Profa. Ana María Celis.
8A Pontifícia Comissão pro Tutela Minorum marcou para 29 de outubro de 2024 a publicação de um “piloto” do “Relatório Anual de Políticas e Procedimentos de Proteção na Igreja Católica” (cf. https://www.tutelaminorum.org/commission-to-present-pilot-annual-report-on-church-policies-and-procedures-for-safeguarding/). Mesmo não sendo exatamente as estatísticas de que aqui se fala, o relatório gera expectativa, uma vez que a publicação de dados dessa natureza é um acontecimento inédito na Igreja.
Ao longo da tratativa deste tema, pode ser que alguém sinta necessidade de falar, seja para contar experiências ou para tirar dúvidas. Se isso acontecer, você pode procurar a Comissão de Cuidado e Proteção ou o Serviço de Escuta da sua diocese, das congregações religiosas ou de outros organismos eclesiais. Ou pode escrever para joao.ferreira@clar.org para se informar melhor.Um abraço e até a próxima semana!
-
 21. Serviços de Proteção (II)31.03.2025 | 8 minutos de leitura
21. Serviços de Proteção (II)31.03.2025 | 8 minutos de leitura
-
 20. Serviços de Proteção (I)17.03.2025 | 6 minutos de leitura
20. Serviços de Proteção (I)17.03.2025 | 6 minutos de leitura
-
 19. Política de proteção (IV)10.03.2025 | 10 minutos de leitura
19. Política de proteção (IV)10.03.2025 | 10 minutos de leitura
-
 18. Política de proteção (III)24.02.2025 | 7 minutos de leitura
18. Política de proteção (III)24.02.2025 | 7 minutos de leitura
-
 17. Política de proteção (II)17.02.2025 | 6 minutos de leitura
17. Política de proteção (II)17.02.2025 | 6 minutos de leitura
-
 16. Olhando mais de perto: Política de proteção (I)10.02.2025 | 6 minutos de leitura
16. Olhando mais de perto: Política de proteção (I)10.02.2025 | 6 minutos de leitura
-
 15. Olhando mais de perto: “abuso sexual”03.02.2025 | 8 minutos de leitura
15. Olhando mais de perto: “abuso sexual”03.02.2025 | 8 minutos de leitura
-
 122 - O medo de ver a realidade23.01.2025 | 1 minutos de leitura
122 - O medo de ver a realidade23.01.2025 | 1 minutos de leitura
-
 14. Olhando mais de perto: abusos emocional, institucional e financeiro13.01.2025 | 16 minutos de leitura
14. Olhando mais de perto: abusos emocional, institucional e financeiro13.01.2025 | 16 minutos de leitura
-
 13. Olhando mais de perto: “abusos”, “abuso de poder” e “abuso espiritual06.01.2025 | 14 minutos de leitura
13. Olhando mais de perto: “abusos”, “abuso de poder” e “abuso espiritual06.01.2025 | 14 minutos de leitura
 20. Serviços de Proteção (I)17.03.2025 | 6 minutos de leitura
20. Serviços de Proteção (I)17.03.2025 | 6 minutos de leitura
 19. Política de proteção (IV)10.03.2025 | 10 minutos de leitura
19. Política de proteção (IV)10.03.2025 | 10 minutos de leitura
 18. Política de proteção (III)24.02.2025 | 7 minutos de leitura
18. Política de proteção (III)24.02.2025 | 7 minutos de leitura
 17. Política de proteção (II)17.02.2025 | 6 minutos de leitura
17. Política de proteção (II)17.02.2025 | 6 minutos de leitura
 16. Olhando mais de perto: Política de proteção (I)10.02.2025 | 6 minutos de leitura
16. Olhando mais de perto: Política de proteção (I)10.02.2025 | 6 minutos de leitura
 15. Olhando mais de perto: “abuso sexual”03.02.2025 | 8 minutos de leitura
15. Olhando mais de perto: “abuso sexual”03.02.2025 | 8 minutos de leitura
 14. Olhando mais de perto: abusos emocional, institucional e financeiro13.01.2025 | 16 minutos de leitura
14. Olhando mais de perto: abusos emocional, institucional e financeiro13.01.2025 | 16 minutos de leitura
 13. Olhando mais de perto: “abusos”, “abuso de poder” e “abuso espiritual06.01.2025 | 14 minutos de leitura
13. Olhando mais de perto: “abusos”, “abuso de poder” e “abuso espiritual06.01.2025 | 14 minutos de leitura
 12. Bendita vulnerabilidade23.12.2024 | 11 minutos de leitura
12. Bendita vulnerabilidade23.12.2024 | 11 minutos de leitura
 11. Ensaiando respostas (VI)16.12.2024 | 16 minutos de leitura
11. Ensaiando respostas (VI)16.12.2024 | 16 minutos de leitura



