3. Evangelização: a Igreja à procura de caminhos


A evangelização[1] sempre foi uma característica da Igreja, que nasceu do anúncio da Palavra e para este fim sempre viveu. Os evangelistas deixam clara essa missão dos apóstolos (Mt 28,19; Mc 16,16), e o Livro dos Atos dos Apóstolos (1,8) confirma essa necessidade de expandir a boa-nova para além das fronteiras de Jerusalém e até os confins do mundo.
Com o passar do tempo, a compreensão dessa missão de evangelizar tomou nuances diferentes. A Igreja – no dinamismo que lhe é próprio – encontrou caminhos alternativos para anunciar a boa-nova de Jesus. Em cada momento, a visão que a Igreja tinha de si mesma se tornou o principal fator de mudanças neste quadro evangelizador. Assim, a mensagem cristã passou por evoluções, tomou novas formas até chegar ao que se tem hoje.
Atualmente, percebe-se na prática evangelizadora a carência de um discurso coerente. O pressuposto da cristandade – o qual ainda perdura – falsifica o discurso catequético, pois o mundo hodierno não respira mais o ar sacralizante – ou sacralizado! – da Idade Média. A Igreja se defronta com uma realidade complexa: católicos tradicionais que querem manter os costumes e a doutrina antigos, mesmo depois das reformas recentes; batizados, com princípios religiosos, mas sem nenhuma vivência cristã, seja no campo ético ou no campo litúrgico; pessoas de boa vontade, mas impregnadas de ideologias religiosas muito mais que do conhecimento de sua fé; católicos de ocasião (batismo dos filhos, crisma, casamento, missa de sétimo dia e outros eventos); uma elite mínima e minimamente bem formada teologicamente, etc. Um grupo diversificado quanto à prática do evangelho e até mesmo quanto à profissão de fé. Várias igrejas católicas convivem dentro da Grande Igreja, unificadas por algumas prescrições litúrgicas, pelo mesmo papa e pela boa vontade de acertar.
Nesta conjuntura eclesial, uma tensão se instalou dentro da Igreja. Há perguntas que não querem se calar: Como conviver com essa pluralidade eclesial? Como se abrir para novos tempos, sem perder as raízes e a estabilidade da fé conquistada em dois mil anos de seguimento de Cristo? Como unificar a Igreja, sem massificar seu público? Ou, pelo menos, como falar uma linguagem minimamente compreensível para todos, capaz de motivar e estimular os católicos a perseverarem no seguimento de Jesus? Como evangelizar hoje? Como fazer catequese nesta realidade tão pouco homogênea?
Certamente este artigo não vai responder a questões tão complexas, nem encontrar soluções para tais problemas. Nem de longe há essa pretensão! O desejo é mais singelo. É tão somente pensar caminhos e, ao mesmo tempo, realçar a urgente necessidade de um discurso mais apropriado para esse quadro de conflitos, onde o velho e o novo se atropelam, sem encontrar um equilíbrio.
Faz-se mister um levantamento da história da catequese da Igreja. Afinal, um modelo de catequese ou evangelização não se instala de um dia para o outro. Não basta um documento da Igreja ou uma “reflexão teológica da moda” para transformar uma realidade tão complexa como essa. A instalação de um modelo catequético é lenta, gradual – quase silenciosa! – mas, certamente, tem marcos visíveis que sinalizam sua chegada e firmam suas bases.
Nesse percurso, é importante localizar dois eventos fundamentais que muito impulsionaram a compreensão que a Igreja tem de si mesma e deram rumos distintos à evangelização: o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II.
1 Repercussões do Concílio de Trento
O Concílio de Trento é um marco importante na vida da Igreja, pois ressitua a pastoral católica diante dos questionamentos advindos da Reforma Protestante.
1.1 A Reforma Protestante
Enquanto a Idade Média respirava o ar católico, filtrado pela liderança dos representantes da Igreja, que não se sentia ameaçada pela competição de outra configuração cristã, a catequese permaneceu viva, mas sem grandes acentos que lhe servissem de balizas. Ela estava presente especialmente pela influência de pregadores populares, santos que dedicaram sua vida à evangelização, alguns movimentos de volta ao evangelho, congregações religiosas e monásticas. Mas os dias de estabilidade da Igreja como única religião cristã, como bloco monolítico que mantém a hegemonia do cristianismo, estavam contados. Em meio a tantos altos e baixos, nos bastidores da Igreja, depois de tantos outros, um teólogo agostiniano alemão, Martinho Lutero[2], ruminava sonhos de mudança[3] e se sentia sufocado pelos ares viciados que penetraram na cristandade. Práticas piedosas de devoção iam se firmando, nem sempre bem fundamentadas no que se entendia como o ideal cristão, até chegar ao seu ponto máximo no caso das indulgências. Tal era a gravidade da situação, que circulava pela Alemanha um famoso dito popular: “Logo que o dinheiro tilinta na caixinha, imediatamente a alma salta para fora do purgatório”.
A prática das indulgências havia se tornado um comércio avalizado pelo papa. O ponto nevrálgico da problemática era o embate entre fé e obras. Martinho Lutero insiste na salvação como dom gratuito de Deus. As obras, por mais desejáveis que sejam como operacionalização do evangelho e da caridade, não são garantia de merecimento da salvação, afirmava o religioso. E não é só Lutero que se apresenta insatisfeito. A visão teológica dominante que favorecia tais piedades, intimidando alguns, ameaçando outros, marginalizando a maioria, não agradava mais ao público católico. Lutero quer pensar essas questões e escreve suas teses: gota d’água para fazer o copo transbordar. Está convencido de que a Igreja de Roma se desviou do verdadeiro evangelho. Mas a crítica do reformador ao lucrativo negócio das indulgências – sobremaneira a investida contra a grande indulgência pelas contribuições para a construção da basílica de São Pedro – não poderia ficar sem repercussões[4]. A Igreja, representada pelo papa Leão X, não ficou satisfeita com tal atrevimento. Estava posta a faísca da discórdia que ia incendiar todo o palheiro.
Lutero encontrou voz para fazer ressoar seu pensamento graças ao apoio dos príncipes alemães, que estavam cansados da tutela da Igreja. Assim, uma questão antes teológica vai tomar viés político e o diálogo se tornará impossível. Em 1521, Lutero é excomungado e a Reforma Protestante se torna um fato histórico, capaz de dividir não só o povo, mas reis e rainhas: algo real demais para a Igreja ignorar.
Dada a largada do movimento, outros vão se colocar na competição para reforçar a disputa contra a Grande Igreja: Zuínglio e João Calvino (Suíça e países vizinhos); Henrique VIII (Inglaterra) e muitos outros. Numerosas insatisfações adormecidas eclodem por meio da Reforma Protestante, dando origem a denominações distintas. O combate entre as Igrejas será acirrado. Guerras religiosas se proliferam: uma infinidade de cristãos é massacrada e a morte chega em nome da verdadeira fé[5].
A partir de Lutero e do movimento em seu entorno, alguns princípios protestantes foram estabelecidos, norteando toda a Reforma: sola fide, sola gratia, sola Scriptura[6]. A Igreja Católica se vê quase que obrigada a fazer sua própria reforma. O Concílio de Trento, convocado em 1545, tem papel fundamental nesse processo.
1.2 O Concílio de Trento e os catecismos
Convocado o Concílio, durante dezoito anos os bispos se esforçaram para elaborar novos documentos e traçar pistas para a caminhada católica. Vendo-se despreparada para o que tinha de enfrentar, a Igreja sentiu-se pega de surpresa numa encruzilhada mal sinalizada da história. Era preciso fazer algo, e urgente! Havia um clima de boa vontade diante dessa urgência gritante. Mas nem tudo foi tão fácil. Foram tantos os problemas, que o Concílio foi interrompido várias vezes. Nada, no entanto, impediu a Igreja de continuar a buscar sua identidade no quadro novo do cristianismo.
Num esforço hercúleo, apoiado especialmente pelo talento dos jesuítas, os documentos foram elaborados. Sua orientação é claramente anti-protestante, a ponto de o Concílio ser intitulado de Contra-Reforma. Ele está sempre no afã de responder à Reforma Protestante e a seus princípios. Não é gratuitamente que, na linha da tradição antiga, suas formulações seguem o modelo dos anátemas[7].
Sentindo-se ameaçada pelo novo concorrente, a Igreja Católica precisava justificar sua prática religiosa, firmar sua doutrina, pontuar com transparência a fé que professava. Não era mais possível pensar que todos estavam imersos no mesmo mundo católico. Dois mundos cristãos se apresentavam. O católico – pouco preparado para enfrentar tal situação – deparava-se com uma religião cristã alternativa, bem parecida com a sua, mas com balizas norteadoras um pouco diferentes, o que implicava em mudanças bem concretas. Era tempo de ensinar ao povo a diferença entre ser cristão-católico e ser cristão-protestante. Ser cristão na Cristandade Ocidental não significava mais necessariamente ser católico. Duas formas de cristianismo se apresentavam. Logo, era preciso conhecer para saber escolher.
Nessa disputa, os seguidores da Reforma Protestante vão se armar com a Palavra de Deus na Bíblia e o livre direito de interpretá-la, enquanto a Igreja Católica vai se munir com os sacramentos, a palavra do Magistério e sua tradição milenar. A teologia católica tomará formato de catecismo popular, especialmente pelas mãos de Carlos Borromeu, encarregado da elaboração do “Catecismo Romano”[8]. Formulado por um grupo de teólogos, este catecismo é, na verdade, um compêndio de teologia dividido em quatro partes: o Símbolo dos Apóstolos, os Sacramentos, o Decálogo e a Oração Dominical. Seu objetivo primeiro era despertar nos fiéis o desejo de conhecer a Cristo e de segui-lo. É um texto discursivo, ou seja, não tem formato de perguntas e respostas, deixando a cada pastor a tarefa de adaptá-lo da melhor forma, para a boa acolhida de seu rebanho. Mas, por não trazer as “lições prontas” como numa receita de bolo, esse compêndio foi sendo preterido em favor de outros manuais, aparentemente mais práticos. É o caso dos catecismos de Pedro Canísio, que ganharam ampla aceitação. A partir de então, toda pessoa batizada na Igreja Católica será doutrinada, por meio dos ditos catecismos. Diante da ameaça à sua identidade, a Igreja Católica procura salvaguardar os valores que lhe são mais caros, ressaltando os pontos que a distinguem das Igrejas da Reforma.
1.3 A importância das missões populares
Depois da tempestade da Reforma Protestante, forma-se uma verdadeira correnteza catequética. As águas do cristianismo transbordam das margens estreitas da hierarquia e, por todo lado, brotam esforços que revelam a preocupação dos pastores católicos com seu rebanho. Um verdadeiro exército do papa se põe a serviço da defesa da fé. Enquanto jesuítas ensinam os exercícios espirituais para uma elite seleta, missões populares são organizadas e se difundem por todo canto. Mais e mais catecismos são editados. Fez sucesso o Catecismo Histórico e Doutrinal, de D. Joaquim da Encarnação, publicado em 1757, que foi veículo inconteste da chamada “Teologia do Medo”. O capítulo 44 sobre o Inferno se tornou amplamente conhecido, tornando-se a base das missões populares. Essa teologia encontrou campo fértil no coração inseguro do povo, dando asas à imaginação fantasiosa de muitos. Ainda hoje deparamos com imagens de Deus, presentes na catequese, que têm sua fundamentação nesta obra e em suas idéias amplamente divulgadas por missionários (im)piedosos. São marcas da Teologia do Medo que perduram até hoje. Depois do Catecismo de D. Joaquim da Encarnação, logo em seguida, em 1777, expoente importante na confecção de um outro catecismo será Belarmino. Seu trabalho consistiu em formular perguntas que um mestre usaria para examinar seu discípulo: uma argüição religiosa.
Estes catecismos populares corriam mundo por meio das missões, chegando a todos os rincões. Com eles, eram veiculados temas importantes – principalmente os de relação estreita com a salvação eterna –, que muito marcavam o povo simples de fé católica. Formulados a partir do imaginário espaço-temporal acerca dos chamados novíssimos do homem, esses catecismos adotavam uma linguagem que causa espanto ao leitor moderno. O tema da vida eterna, com tudo o que envolve este cenário, sempre foi um campo aberto para especulações sem fim. Por meio das pregações, os católicos eram incitados a crer em Deus, sob pena de castigos horrendos. A única solução era buscar os sacramentos e a vida piedosa, veículos capazes de preservar de tais males.
1.4 Balanço geral
Mesmo reconhecendo todo o esforço do Concílio de Trento e o brilho de suas respostas para as questões propostas naquele momento específico, é preciso admitir que a pregação popularizada subseqüente, desencadeada a partir da teologia tridentina, propagou uma formação católica que atemorizava consciências. De tal discurso, não se podia esperar mais que a implantação definitiva da Teologia do Medo, com imagens muito extravagantes de Deus, a necessidade urgente de mediadores – Nossa Senhora e os Santos, as almas do Purgatório –, a busca supersticiosa dos sacramentos como meio mágico de salvação, o desconhecimento total da Bíblia, a veneração dos representantes da Igreja como figuras sagradas capazes de espantar o perigo e o mal, e outras conseqüências.
Com as mudanças advindas dos novos tempos, mesmo com todo o receio da Igreja quanto a esse processo de modernização – pensamos no Vaticano I e na reação antimodernista de Pio X –, novos sujeitos se faziam presentes no cenário da Igreja. O Vaticano II já estava sendo gestado no ventre fértil de pessoas cheias de lucidez e ávidas de mudanças.
2 Repercussões do Concílio Vaticano II
O Vaticano II (1962-1965) é um divisor de águas na história contemporânea da Igreja. Ele chegou como um filho muito esperado, mas que só veio à luz ao custo de dores sem par.
Diversos movimentos o precederam e prepararam o terreno da Igreja Católica para a grande semeadura que haveria de acontecer. Por todo lado, podiam ser vistos sinais de mudança. A Ação Católica registrava a presença atuante de fiéis leigos no campo social, o Movimento Litúrgico vinha promovendo a chance de a liturgia ser repensada. O Movimento Bíblico fazia a Bíblia transbordar do universo hierárquico para ambientes populares. O Movimento Ecumênico ganhava força depois das guerras: cristãos superaram suas divergências e se uniram para servir os refugiados de guerra e os judeus. O ecumenismo não era mais um sonho impossível, mas uma idéia ventilada em alguns ambientes. O Movimento Catequético ganhava vulto tendo como animador Joseph Colomb, diretor do ensino religioso de Lião. A partir de 1964, diversas obras acentuam as insuficiências do catecismo que vigorava na Igreja. Uma sede de mudança e de um novo discurso se instalava pouco a pouco, sem alardes, mas ganhando terreno.
2.1 A convocação do Concílio
O século XX chegou com a Modernidade transitando livremente nos diversos setores da vida humana. Mas, no campo religioso católico, a Modernidade encontrou o sinal fechado[1]. Prevalecia ainda uma visão estática e jurídica da Igreja, tanto no campo da reflexão teológica quanto no campo da práxis (moral e pastoral principalmente). Depois da Reforma Protestante e da Revolução Francesa, com o conseqüente processo de secularização da sociedade, a Igreja não gozava mais de tanto prestígio. Como um caramujo que, ao ver-se ameaçado, se recolhe sob a couraça de sua concha, a Igreja havia se voltado para dentro de si mesma, desenvolvendo um discurso apologético para proteger-se dos ataques da Modernidade. O pontificado de Pio XII (1939-1958) carrega marcas desse esforço de conservadorismo, mas já com sinais visíveis de sua iminente superação.
Os movimentos de renovação ganharam força dentro da Igreja depois da Segunda Guerra Mundial. Nota-se, por todo canto, um vento novo, que já sinalizava o sopro grandioso do Espírito que ainda estava por vir com o Concílio. O papa João XXIII será o grande radar meteorológico que vai captar o tempo novo que se aproxima. Não dava mais para sustentar a postura de dona absoluta da verdade, que fora reforçada pela proclamação do dogma da infalibilidade do magistério do Sumo Pontífice[2]. É preciso sentir o ritmo do tempo, as vibrações do momento histórico, e, assim, fazer o necessário aggiornamento da Igreja para o contexto atual. Só com um novo Concílio seria possível uma renovação em escala mundial, que atingisse a Igreja no âmago de sua existência. Estava convocado, provocando reações bem diversificadas, o Concílio Vaticano II.
2.2 O Concílio (1962-1965)
Enquanto alguns aspiravam a renovações, outros se obstinavam em manter o ritmo antigo, de tal forma que a resistência ao novo foi sentida de vários modos no Concílio. Alguns chegaram a pensar que o Vaticano II seria apenas uma assembléia de curta duração, um fechamento do Concílio Vaticano I, sem maiores repercussões. Mas o papa mostrava-se firme em suas decisões e garantiu a necessária liberdade para os conciliares exporem os problemas mais gritantes e procurarem soluções oportunas para eles. Uma verdadeira faxina foi iniciada no interior sombrio da Igreja. Feita a desordem necessária para a limpeza da casa, morre o Papa Sorridente, deixando uma expectativa no ar e um nó na garganta de todo o povo que ele cativou em tão pouco tempo.
Assume o pontificado o papa Paulo VI (1963-1978), que dá continuidade ao processo iniciado por seu antecessor. Logo na sua primeira mensagem como papa, ele sinalizou seu desejo de levar a cabo o projeto iniciado por João XXIII. E foram muitas as sessões de trabalho incessante, fatigante. A Igreja se debruçou sobre si mesma para melhor compreender a si e a sua vocação. Assim, podia dialogar com o seu tempo de modo mais eficaz e ser presença de Deus no meio do mundo. Sem dúvida, o Concílio foi um evento ímpar, a ponto de ser chamado de “Novo Pentecostes”. No entanto, não foi só o acontecimento em si que teve tanta importância. Os documentos produzidos, que compõem o grande legado do Concílio, tornaram-se tesouro precioso para a Igreja, servindo de pontapé inicial para várias outras renovações na vida eclesial.
Foram produzidos ao todo dezesseis documentos, sendo a Lumen Gentium – juntamente com a Gaudium et Spes – considerada por muitos como a coluna dorsal do Concílio. A novidade se fazia especialmente presente no jeito de a Igreja compreender a si mesma e o mundo. A passagem de uma visão hierárquica piramidal para uma imagem de Igreja como Povo de Deus em comunhão trouxe conseqüências muito importantes para a elaboração de um novo discurso. Mas esse novo jeito de ser Igreja não terá interpretação unívoca.
2.3 Interpretações do Concílio
Tendo a Igreja mudado o jeito de se compreender (Lumem Gentium) e também o jeito de se relacionar com o mundo (Gaudium et Spes), estava aberto o campo para novas tentativas pastorais e catequéticas. Outros discursos se faziam possíveis, pois havia espaço para a elaboração de uma nova linguagem que fosse mais acessível ao povo e mais de acordo com a realidade do momento. Duas tendências se sobressaem na hora de interpretar pastoralmente o Concílio.
a. Tendência socializante
A primeira e mais marcante tendência criativa de buscar um novo modelo de Igreja centrou-se no aspecto socializante da fé, cujo lema fincava raízes no desejo de João XXIII: por uma Igreja pobre e serva. O Vaticano II foi acolhido na América Latina com entusiasmo por pastores, teólogos e leigos que desejavam mudanças sociais significativas, cansados de ver o sistema opressor em que viviam – e ainda vivem – milhões de pessoas. As reflexões conciliares ganharam feição própria na pobreza dos países do Terceiro Mundo e a identidade católica foi redescoberta no rosto do povo sofrido, sinal visível do Cristo crucificado. A problemática da fé foi vista sob uma ótica inovadora: o processo de libertação dos oprimidos. Brotam desta experiência a teologia e sua reflexão, e não o contrário. Uma práxis libertadora norteia o caminho teológico.
Baseada na espiritualidade do êxodo de Israel – libertado do regime opressor do Egito –, a tendência socializante ganhou adeptos, pessoas de peso, nomes importantes, tendo como expressão teórica dessa corrente a Teologia da Libertação[3].
Os passos mais marcantes para firmar essa tendência à práxis libertadora foram dados pelas Conferências Episcopais latino-americanas, que assumiram a tarefa concreta de traduzir as grandes inspirações do Vaticano II para a realidade do povo sofredor deste continente.
Em 1968, ainda sentia-se o frescor do perfume do Concílio que desabrochara há pouco, quando aconteceu a Conferência de Medellín. Dela resultou um documento, no qual os bispos afirmaram clara e corajosamente a necessidade de uma catequese libertadora, frente a uma sociedade profundamente marcada pela injustiça e pela opressão[4].
E não ficou por aí. Em 1979, Puebla fala sobre a evangélica opção pelos pobres, realçando, com cores fortes, o estranho quadro social construído com ricos e pobres. Tanta pobreza e tanto sofrimento não podiam ser ignorados pela Igreja na América Latina.
Em 1992, em Santo Domingo, percebe-se uma nova urgência: a evangelização inculturada, porém sem grandes avanços no discurso socializante.
O que se pode notar é que, sem desprezar o caráter pessoal da conversão, a ênfase dos documentos está centrada em problemas tidos como mais urgentes: a estrutura social, a economia, o jeito de a sociedade e o mundo se organizarem, e as consequências disto. Fala-se muito em pecado social, em estruturas opressoras, massacrantes até, que pesam sobre o ser humano. A reflexão nasce de uma realidade concreta de sofrimento, tanto que daí se sacramentou na América Latina o método pedagógico ver-julgar-agir. Este novo enfoque olha o ser humano integral, mas prioriza sua libertação social. Dessa forma, não focaliza os outros conflitos do ser humano, imerso em uma situação complexa, com sofrimentos que vão além das necessidades de ordem social. Os aspectos subjetivo e afetivo, por exemplo, não são tratados de forma suficiente. Talvez para não correr o risco de promover uma religião alienante, individualista, desencarnada, essa tendência socializante tenha preferido deixar de lado essas questões que dizem respeito à subjetividade, à afetividade, à sexualidade. Esses dramas mais existenciais pareciam “problema de quem não tem outros problemas”[5]. Mas o que a alguns parecia fuga das questões sociais foi tomando forma como necessidade urgente do ser humano. Os próprios pobres revelaram um cansaço do discurso sóciopolítico. Afinal, a pessoa humana não necessita só de alimentação, moradia, saúde, educação, mas também de afeto, carinho, festa, prazer, amizades, relações pessoais profundas.
Mesmo reconhecendo todo valor das CEBs e da espiritualidade libertadora, nota-se que certas angústias humanas foram menos destacadas por essa corrente pastoral-teológica. Não faltaram, pois, outros grupos que as valorizassem. A balança da vida eclesial tinha um outro prato e um outro peso: uma tendência espiritualizante também ganhava força no universo eclesial.
b. Tendência espiritualizante
Outra tendência criativa de fazer acontecer o Vaticano II nas comunidades eclesiais é caracterizada pela vertente mais espiritualizante que se instalou depois do Concílio. Um novo pentecostes era desejado, sonhado, no esquecimento daquele que tinha sido o Vaticano II, ou no desejo de trazê-lo para mais perto do povo! Leigos de toda parte queriam se sentir Igreja, descobrir seu lugar neste imenso povo de Deus e assumir os carismas que lhe são próprios.
Grande força tiveram certos movimentos de Igreja. Um tanto diferentes da linha mais socializante que, sem estar separada dos outros continentes, tem seus pés fincados no terreno da América Latina, estes grupos são mais universalistas. Sua pátria é o mundo: nascem nos Estados Unidos, na Europa, na Espanha, ou numa insignificante cidade de um lugar qualquer. Correm mundo atravessando montanhas e superando limites oceânicos, até chegar também ao Brasil. As pessoas passam a valorizar o fato de pertencer a este ou aquele movimento, lutando para que ele seja considerado parte da grande pátria-mãe, a Igreja, o povo eleito de Deus.
A grande preocupação que vigora é a conversão pessoal. É preciso se converter para pertencer a este grande povo chamado à santidade. As estruturas sociais que massacram e oprimem são vistas como resultante de corações empedernidos que não aderiram à Palavra de Deus. Convertendo-se os corações, mudam-se as estruturas.
Neste quadro, destaque especial ganha a Renovação Carismática Católica (RCC), que rapidamente alastrou-se pelos campos da Igreja, como também o Neo-catecumenato, ao lado de movimentos mais antigos como são o Opus Dei, os Focolares, etc. Sob a inspiração de um líder carismático, diversas pessoas se agregam, vivem a mesma espiritualidade, descobrem novos carismas e encontram o seu jeito de ser Igreja.
Pouco a pouco, ganhou força um discurso espiritualizante[6]. Havia uma lacuna na vida eclesial que não fora preenchida por nenhum esforço da Igreja. Esses movimentos responderam de certa forma ao desejo do católico de possuir uma espiritualidade mais profunda, de fazer uma experiência pessoal de Deus, de encontrar uma forma mais livre de rezar, de ler a Bíblia e poder interpretá-la, de descobrir seu espaço na vida interna da Igreja e de exercer seu carisma dentro de um grupo de fé. Isso favoreceu o crescimento desses movimentos e o surgimento de diversas comunidades de vida, muito diferentes dos modelos anteriores como as CEBs, mas também com características eclesiais, e ambas tentando reforçar os vínculos comunitários. Os laços fraternos entre os membros dos grupos foram se estreitando e comunidades de vivência da Palavra de Deus e de ajuda mútua foram encontrando adeptos. A Paróquia, modelo da vida eclesial, teve sua força diminuída, pois o que congrega as pessoas não é mais o espaço físico ao qual ela pertence, mas a comunhão de vida que é estabelecida com outros irmãos na fé. Em 1991, a CNBB corajosamente ensaiou umas dicas pastorais sobre essa nova realidade (cf. Doc. CNBB 45, 202-203).
Não foi sem razão que estes grupos cresceram rapidamente. A linguagem evangélica mais existencial cativou a muitos. O alento perdido retornou para aqueles que se sentiam desesperados. A alegria voltou ao coração de pessoas sofridas. A fé ressurgiu para muitos que estavam afastados da Igreja. O amor foi experimentado como algo vindo de Deus. O perdão ganhou espaço em corações rancorosos. A espiritualidade cristã foi ressuscitada em meio à aridez do discurso social. Ela emergiu do fundo de corações que pareciam empedernidos. Eclodiu como uma pupa que, se tornando borboleta, sai do casulo e voa pelos campos. Estava livre para ocupar as lacunas. Afinal, os discursos católicos predominantes – o oficial e o libertador – tinham deixado muitos espaços vazios.
3 Modelos de catequese
Nos últimos quinhentos anos, a Igreja passou por momentos importantes que deixaram marcas na sua história. Dentro desse panorama (desde Trento até o Vaticano II, que toma feições próprias na América Latina), surgem pelo menos três modelos de catequese, cada qual com bases eclesiológicas e cristológicas próprias e, por isso, com objetivos específicos, podendo ser distinguidos.
Mesmo podendo ser distinguidos, é bom lembrar que a linha divisória entre esses modelos é muito tênue. Por vezes, não dá para saber onde acaba um e começa outro, até porque eles coexistem com a maior tranqüilidade nos tempos atuais. Afinal, uma das características da Pós-Modernidade é a pluralidade, a diversidade, a bricolagem. Ainda que essa divisão só tenha fins pedagógicos, ela é fundamental para a compreensão da prática catequética de hoje, para uma melhor distinção dos atuais discursos que vigoram na pastoral.
É sempre complicado dar nomes para esses modelos. Como disse Guimarães Rosa, “muita coisa importante falta nome”. Nomes especificam demais, rotulam, põem dentro de categorias e padrões específicos, como se cada modelo subsistisse em compartimentos estanques. Não é assim. Mesmo correndo esse risco, essa nomeação será feita com fins didáticos.
3.1 Catequese centrada na doutrina
Uma prática catequética que tem suas bases na necessidade de doutrinar, nascida a partir de Trento, pouco a pouco se implantou no palco da Igreja. Uma preocupação muito grande com a identidade católica, com os mandamentos, o conteúdo da fé e os sacramentos foi encontrando aconchego em alguns espaços eclesiais, especialmente depois do crescimento assustador do número de Igrejas cristãs e de adeptos que tais denominações arrebanharam.
Os católicos que sobraram na Igreja não têm mais um perfil único que os distinga, dando um rosto próprio ao catolicismo. Como já foi dito, há católicos piedosos ainda herdeiros dos catecismos tridentinos, com medo de Deus, com visão mágica dos sacramentos. Há católicos de nome, sem nenhum vínculo de maior compromisso com a fé católica, que freqüentam o culto por ocasião de algum evento importante: casamento de um parente, missa de corpo presente ou sétimo dia, primeira comunhão ou batismo dos filhos. Há católicos que freqüentam, ao mesmo tempo, a liturgia da Igreja Católica e outra denominação religiosa. Há católicos que pensam que não é preciso freqüentar a igreja, pois é suficiente fazer o bem e viver a caridade. Há católicos que não abrem mão deste título, mas desconhecem sequer a fé que a Igreja professa. Há católicos piedosos, com práticas religiosas freqüentes, mas com características pentecostais: lêem a Bíblia, vão à missa, conhecem a fé, fizeram uma experiência pessoal de Deus, mas têm linguagem e prática eclesial pouco semelhante às que se esperam de um cristão. Há católicos cheios de boa vontade, militantes na prática social, preocupados com a libertação do povo, com a organização da sociedade, com a ecologia, com a mulher, com os grupos minoritários. Mas estes também nem sempre se encaixam perfeitamente no perfil católico. Por vezes ignoram as orientações da Igreja, menosprezam os sacramentos, desconhecem a fé professada, mas conhecem bem alguns textos bíblicos que sustentam suas práticas pastorais. E ainda há uma pseudo-elite: intelectual, engajada, aparentemente bem formada, mas um tanto distante do povo eclesial comum.
Diante de tal quadro, uma necessidade parece urgir: é preciso formar o católico, ensinar-lhe a base de sua fé. Ele deve estar preparado para dar as razões de sua esperança (cf. 1Pd 3,15). Pastores de boa vontade se empenham a todo custo nesta tarefa. Cursos de batismo, cursos de noivos, cursos de crisma, preparação para a primeira comunhão, curso disso e daquilo. Para qualquer passo na vida eclesial – especialmente quando se trata dos sacramentos – é preciso fazer um curso, freqüentar a comunidade, ganhar um certificado.
E não é só isso! O discurso catequético-evangelizador tomou esse tom. Nas assembléias, nas homilias, nos encontros, nos retiros, em toda parte, fica clara uma preocupação grande com o saber, com o conhecer. Imagina-se que o aprofundamento doutrinal garanta aos batizados a passagem de católicos nominais a católicos efetivos, como se a doutrina fosse uma fórmula mágica, capaz de tirar do anonimato e inserir no serviço à Igreja.
Busca-se na doutrina uma esperança para a fé. Esse modelo catequético está bastante em vigor. E não é só por parte de párocos e catequistas, que, preocupados com a formação dos catequizandos, procuram o manual mais denso, com mais conteúdo. Não! A preocupação vem da hierarquia como um todo, das autoridades eclesiásticas. É só observar. Em 1992, a Santa Sé lançou o “Catecismo da Igreja Católica”[1]. Ele tem semelhanças grandiosas com o “Catecismo dos Párocos” de Trento: primeiro, o Símbolo dos Apóstolos; depois, os Sacramentos; em um terceiro momento, a Vida Ética, com ênfase nos Mandamentos; e, por fim, a Oração Cristã. Esta observação não chega a ser uma crítica em relação ao esquema adotado. Talvez o modelo de Trento tenha sido mantido, porque estes são os pilares da fé cristã, mas não deixa de ser sintomática a semelhança. Outra semelhança com o Catecismo de Trento é que ele não se destinava ao povo, mas aos bispos. Na prática, porém, o Catecismo da igreja Católica acabou sendo usado em cursos populares, etc. As Igrejas Particulares e Conferências Episcopais deveriam fazer seu próprio catecismo para o povo, mas como isso não acontecia, em 2005, o dito Catecismo ganhou da parte do Vaticano uma versão mais popular em forma de perguntas e respostas[2]. A fim de facilitar para o povo! Mas este caminho pode se tornar perigoso. Seria uma simples volta ao passado, por não se saber como agir frente ao futuro incerto? Haveria, por trás dessa retomada da doutrinação, o pensamento de que conhecer os conteúdos da fé seria a solução para todos os problemas pastorais? Está claro para a Igreja que não basta conhecer os conteúdos da fé, apesar de também isto ser muito importante no processo de seguimento de Jesus Cristo?
Por fim, em julho de 2007, a CNBB lançou uma publicação parecida: um catecismo facilitado para o católico do Brasil: “Sou católico, vivo a minha fé”[3]. Um livro que mostra o esforço dos bispos do Brasil de fazer conhecida a fé católica, abordando inclusive temas que distinguem a doutrina católica da doutrina protestante. Uma iniciativa boa, cujo resultado é ainda incerto, mas que parece não ser suficiente para enfrentar os novos desafios pastorais.
Não há dúvidas de que uma grande preocupação com a doutrina se alastrou por toda a Igreja. E não é sem razão. Os católicos perderam sua identidade de fé: já não é mais tão fácil distinguir um católico de um evangélico, de um budista, de um seguidor da New Age, de um espírita. Ficou tudo tão globalizado, tão parecido, que a gente até se pergunta: Existe de fato uma identidade católica? E, se existe, o que fazer para resgatar essa identidade? Qual o discurso mais apropriado para este resgate? Alguns parecem optar pelo caminho da doutrinação. A difusão da doutrina gera conhecimento dos conteúdos da fé. O católico que conhece bem a fé que professa sabe se posicionar melhor frente ao proselitismo de certas Igrejas. Mas é bom lembrar o que disse Karl Barth: “O chamado ao discipulado sujeita a pessoa Àquele que a chama. Ela não é chamada por uma idéia sobre Cristo, ou uma cristologia, ou um sistema cristocêntrico de pensar com a suposta concepção cristã de um Deus Pai”[4].
Fica, então, uma pergunta: será a catequese centrada na doutrina suficiente para formar o cristão maduro na fé? Será que este modelo pode gerar autênticos discípulos de Cristo?
Todo discurso adotado faz surgir uma pergunta: que tipo de cristão ele quer formar? Certamente a resposta de quem aderiu a tal método será: “o que se quer é formar o cristão maduro”. Ninguém há de dizer que quer formar o católico para os sacramentos ou para o serviço interno da Igreja. Mas, na prática, quase sempre é este o cristão produzido por esta evangelização. Os manuais de catequese infantil, por exemplo, estão sempre divididos em etapas de preparação para o sacramento. Sem falar na preparação para batismo e casamento e a respectiva catequese própria. Tudo isso é bom! Mas, a rigor, pode não preparar um autêntico seguidor de Jesus, mas sim alguém com melhor conhecimento da fé, sem garantias de que essa seja realmente abraçada.
O modelo catequético centrado na doutrina é apenas um dos que têm vigorado no momento presente. Mas ele não está só. Há outros disputando o espaço!
3.2 Catequese centrada na mudança social
Outro modelo é o da catequese centrada na mudança social. Não é difícil detectar sua presença, nem perceber seus sinais. Uma “catequese pé-no-chão”, como foi muitas vezes chamada, começou a fazer história. Passo a passo, surgiu um modelo de evangelização que tomou vulto e ganhou uma linguagem teológica própria.
Muitos teólogos abraçaram esta causa, e um discurso inovador foi construído. A Teologia da Libertação muito tem contribuído para isso, pois fez teologia a partir do pobre e de seu lugar existencial. Não adaptou uma teologia clássica para o pobre, nem fez teologia primeiro para depois levá-la até ele. Fez teologia com ele. Uma reflexão surge da práxis libertadora e não o contrário. Teólogos de renome como Gustavo Gutierrez, Jon Sobrino, João Batista Libanio, Leonardo Boff e outros deixam legados importantes neste sentido.
Por meio deste discurso mais libertador, alguns pastores tentam conscientizar os católicos. A própria catequese, em algumas paróquias, ao preparar para os sacramentos, não admite mais os manuais doutrinários. Parte de fatos concretos, muitas vezes reveladores de opressão. Os planos de encontro passam a ser chamados de Projetos de Ação Evangélico-Transformadores. Transparece o desejo insistente de unir fé e vida. Um esforço de sair da mera reflexão sobre a Palavra de Deus, para atuar efetivamente nessa realidade cruel que precisa ser transformada.
Porém, não foram poucas as vezes em que essa tendência evangelizadora desprezou certas orientações importantes oferecidas pela Igreja, com o argumento de que elas não vêm da comunidade, não brotam do povo, como se a Igreja fosse uma democracia. Alguns, além disso, aboliram toda sistematização do anúncio da Palavra, alegando que deve ser anunciado o que brota da realidade concreta da vida, de um fato real que acaba de acontecer ou de um problema concreto que ameaça a comunidade. Como se vida cristã fosse só resolver problemas, lutar por justiça e denunciar abusos. A doutrina foi relegada a um segundo plano, ou extinta, ou ainda colocada em função exclusiva do fim social almejado.
Assim, alguns padres passaram a não anunciar mais a Palavra de Deus, proclamada na liturgia. Usam o altar para mandar recados para os poderosos, fazer campanha política, protestar contra algum fato. Alguns catequistas não admitem mais um manual que auxilie nos encontros: lêem revistas, recortam jornais, conversam sobre notícias do rádio, da televisão e da internet. Entendem assim estar fazendo uma catequese “pé-no-chão”.
Ora, o documento Catequese Renovada da CNBB, que fez história na catequese no Brasil, citando a Gaudium et Spes, havia alertado para o fato de que as angústias do homem moderno deviam ser assumidas pela catequese (cf. CR, 73-74):
Essas afirmações significam que não basta oferecer doutrina ao povo. É preciso assumir suas angústias, esperanças, sonhos, desejos, sofrimentos, tudo que o envolve. E, assim, oferecer salvação integral e libertação plena. Mas não foi isso que aconteceu.
A preocupação com a realidade sóciopolítica deu formato a uma catequese que parte dos problemas sociais e políticos: o problema da terra, da saúde, da pobreza, das barragens, do esgoto. Tudo isso se tornou conteúdo da evangelização. E, sem dúvida, este foi um grande avanço, pois trouxe para o discurso da Igreja uma realidade muito válida e necessária. Algo profundamente humano que não podia ficar fora do âmbito cristão, a não ser com grande prejuízo da boa-nova de Jesus Cristo. Esse método foi praticamente assumido como método da Igreja latino-americana, sendo, por isso, quase intocável. Mas será que a Igreja, ao anunciar a Palavra de Deus, quer somente formar um militante social cristão? Será que a realidade humana não é mais complexa e abrangente que isso? É bem verdade que os adeptos desta corrente já mudaram um pouco seu discurso. Faz parte do mesmo, agora, a celebração, a vida festiva, a ecologia, a linguagem materna que amacia o discurso socializante, um tanto maçante para homem e mulher pós-modernos.
Mas, apesar de tudo, a catequese libertadora continua seu discurso de militância. Certamente um cristão maduro é aquele que assume, entre outros desafios, o compromisso com a realidade. Mas, se a pessoa tem apenas resposta para os problemas sociais e políticos, não parece ainda ter chegado à maturidade cristã desejada, já que surgem outros problemas e questionamentos que extrapolam o âmbito social e também são importantes para a realização cristã do ser humano.
Paralelamente a este discurso socializante, cheio de utopias e projetos transformadores, outra linguagem desponta. Um discurso mais voltado para a conversão pessoal se desenvolve, adubado pelo retorno do sagrado e pela emergência da subjetividade, próprios da Pós-Modernidade.
3.3 Catequese centrada na conversão pessoal
Bastaram três dias depois do “amém” das exéquias celebradas em honra a Deus que havia morrido pela boca de alguns filósofos, para que o divino ressurgisse do seio da terra com força total. Mesmo com todas as investidas de alguns pensadores contra a religião, especialmente Feuerbach, Marx, Sartre, Nietzsche e Freud, que contribuíram para o ateísmo moderno, sobreviveu no coração humano a sede de Deus. Num momento em que todos apostavam na máxima secularização da sociedade, o que parecia improvável aconteceu. Cansado de tanta racionalidade e desencantado com a imanência deste mundo que passa, o homem pós-moderno busca pelo sagrado. Tem sede de Deus. Anseia por ele. Deseja encontrá-lo.
E o grande sinal dos tempos hodiernos se faz então visível: as igrejas que adotam certo estilo sacralizante estão repletas de fiéis, os movimentos religiosos alternativos atraem numerosos adeptos, as seitas estão abarrotadas de gente. Todos querem Deus, ainda que não saibam que Deus é esse. Por meio da busca alucinada de algo que console o ser humano e o arranque de sua própria insignificância, revela-se que a Palavra de Deus quer ser ouvida: “Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e cansados, e eu vos aliviarei” (Mt 11,28).
Diante do retorno inesperado do sagrado, uma nova vertente catequética encontrou espaço: um discurso com tendência centrada na subjetividade, na conversão pessoal, na experiência de fé.
É até difícil pensar que católico resultará dessa nova vertente evangelizadora. Por ora parece que o objetivo central é converter a pessoa e, por meio dessa experiência de conversão, provocar as demais mudanças. No entanto, o que se tem reparado é que este discurso está formando um público católico que vai à missa, que reza o terço, que usa camiseta com slogans “Deus é dez” ou que prega no carro um adesivo “Sou feliz por ser católico”, mas não entrou em comunhão com a fé cristã na sua radicalidade. Quando a vida aperta, esse católico não sabe sofrer, pois não entendeu a dinâmica do “tome a sua cruz e siga-me” (Lc 9,23). Ele quer retribuição, pois Deus é bom. Quer garantias de paz, de saúde, de sucesso e muito mais. Não sabe lidar com os fracassos da vida, com as perdas, com a morte e coisas afins. Não entendeu a engrenagem da sociedade, ainda que se engaje em partidos políticos e se candidate. Conhece a doutrina católica, mas como um pacote que não se encarna na realidade histórica em que está inserido. Vive meio aéreo, como se andasse nas nuvens, elevado pelo Espírito que o arrebata deste mundo de pecado.
Essa linguagem mais voltada para a espiritualidade e a conversão pessoal é um ensaio de resposta a um visível sinal dos tempos. Esse discurso é necessário. O católico que não fez a experiência pessoal da conversão não tem as bases necessárias para o resto da construção da fé. O que está em jogo não é a necessidade ou não da conversão pessoal, mas o conceito de conversão. Converter-se é mais que voltar às práticas religiosas de antes. Eis o desafio!
4 Conclusão
Na tentativa de continuar a obra de Jesus, a Igreja procura saídas para os impasses que se apresentam. Tenta falar uma linguagem adaptada ao homem atual. Quer estabelecer diálogo com ele. Mas, diante de tantos desafios, a boa-nova de Jesus ganhou uma expressão plural, na tentativa de melhor se comunicar com os sujeitos eclesiais que se apresentam no interior das comunidades cristãs. Mas, diante de tantos discursos que coexistem no interior da Igreja e até se entrelaçam às vezes, algumas características da evangelização não podem ficar esquecidas.
a) Uma catequese narrativa
A evangelização da Igreja não apresenta uma doutrina, mas uma pessoa: um Deus vivo e presente que se relaciona com seu povo. A catequese tem como finalidade “aprofundar o primeiro anúncio do Evangelho: levar o catequizando a conhecer, acolher, celebrar e vivenciar o mistério de Deus, manifestado em Jesus Cristo, que nos revela o Pai e que nos envia o Espírito Santo” (DNC, 43). Ora, partindo, pois, do mistério de Deus – o relato da vida, morte e ressurreição de Cristo –, a catequese deveria proporcionar aos catequizandos meios para acolher a Palavra da vida, de forma que cada ouvinte se sinta interpelado por Deus e se disponha à obediência de seu chamado. É preciso então pensar a catequese da Igreja não como um manual de doutrina a ser ensinado, ou um conjunto de verdades escolásticas a ser repassado para o ouvinte. Um manual não converte nem muda a vida de ninguém. Só um encontro pessoal com o Deus vivo, que chama e interpela a cada um pessoalmente, tem força para transformar vidas.
Afirma o DNC, n. 127, que mais que anunciar “verdades de fé, trata-se da verdade que é antes de tudo uma pessoa, Jesus Cristo”. Se o objetivo principal da catequese fosse anunciar verdades, talvez pudéssemos pensar em uma catequese bem doutrinária, cujas verdades já foram antecipadamente estabelecidas e cujo compromisso com o interlocutor fosse minimizado, tamanha a primazia do conteúdo. Mas não é assim! A catequese é o anúncio de uma pessoa, de um Deus que se relaciona, que entra na nossa história e a transforma. Desse modo, a catequese tem traços de fixidez, é sólida: ela não é fruto de modismos ou da criatividade do catequista, pois nossa fé não é inventada, é herdada; é apostólica. Mas, ao mesmo tempo, a catequese tem traços de fluidez; ela é solta; é uma criação teológico-pastoral a partir de seu tempo e suas reais necessidades, levando em conta os sujeitos eclesiais que se apresentam no cenário da Igreja. A catequese é atualização da Palavra de Deus.
Sem dúvida, a catequese atual já superou em muito os manuais de Trento, mas a fixidez nos temas do Catecismo dos Párocos (Símbolo dos Apóstolos, Sacramentos, Mandamentos – Bem aventuranças, Oração Cristã – Pai Nosso) é observável ainda hoje. Não são poucos os documentos da Igreja que ainda insistem nesse ponto. O DNC (n. 127) começou a desconfiar desse esquema, mas não conseguiu dar passos nesse sentido. Percebeu que a catequese é mais que transmissão de doutrina e intuiu a necessidade de uma catequese narrativa, mas ainda entendeu a narratividade da fé como um conteúdo a mais a ser repassado para os catequizandos. Não se deu conta de que a narratividade não se confunde com algo a ser acrescido ao conteúdo já estabelecido; é característica própria da fé crista. Um Deus que se fez homem, se fez história, em cuja vida Deus se disse à humanidade é pura narratividade. Anunciar o Deus de Jesus Cristo de forma autêntica não parece possível de outra forma a não ser pela narratividade. A narratividade da evangelização está há muito ameaçada pelos manuais – tanto por uma teologia bem elaborada no caso da catequese com adultos (a começar pelos Institutos de Teologia), quanto por uma teologia ingênua, no caso das crianças. Os manuais substituíram a narrativa. A catequese infantil virou aula de catecismo – com livro e tudo! – e a evangelização dos adultos virou curso de teologia para leigos – com direito a formatura! É urgente resgatar a narratividade da catequese, deixando Deus falar aos corações e interpelar para o seguimento de seu Filho Jesus Cristo.
b) Uma catequese querigmática
Jesus Cristo é o eixo central da evangelização, afirma o DNC. A evangelização “conduz ao centro do Evangelho (querigma), à conversão, à opção por Jesus Cristo que nos revela o Pai, no Espírito Santo” (DNC, 13d). O DNC entendeu que, para fazer parte do povo de Deus, é preciso mais que cumprir práticas cultuais ou obedecer a leis. Faz-se mister acolher o Cristo morto e ressuscitado, anunciado pelas testemunhas que viveram sua experiência com ele.
Se o acolhimento à pessoa de Jesus se apresenta como marco fundamental do seguimento, torna-se urgente dar uma orientação decididamente querigmática[5], iniciática, à catequese, de forma que ela favoreça a experiência primeira da fé. Como afirma um catequeta francês[6], o desafio do catequista – seja ele leigo ou ministro ordenado – não é tanto o de ajudar o povo a ligar a vida e a fé, como se a fé já fosse um pressuposto, um dado concreto inquestionável, presente na vida de nossos catequizandos. Seu desafio atual parece ser o de ajudar sua gente a se apropriar desse ato de fé e de assimilar suas verdadeiras repercussões para a vida. É bom lembrar que a experiência da fé não se visibiliza com tanta evidência. O Deus cristão é o Deus totalmente outro, um mistério que ultrapassa infinitamente o homem e que se encontra velado aos nossos olhos. Se nos é dada a graça de conhecê-lo é porque esse Deus misterioso e escondido, na grandeza do seu amor, se comunica em seu Filho para bem da humanidade e de cada indivíduo. Ao assumir sua tarefa, o catequista contemporâneo precisa se lembrar de que o único caminho possível da humanidade para Deus é aquele que vai de Deus para a humanidade: Jesus Cristo. Ajudar o povo a fazer essa experiência do Deus totalmente Outro, mas totalmente próximo e presente em nossa história em Jesus Cristo, desponta como missão primeira da catequese hoje. A fé cristã não sobrevive mais nas atuais circunstâncias se não for assumida como uma convicção pessoal e livre. A fé herdada de nossos pais já não garante mais a nossa fé. Antes de ser transmissão, a fé reclama seu caráter de proposição que deve ser livremente assumida ou rejeitada.
c) Uma catequese mais litúrgica, mistagógica
O apossar-se da fé se dá no caminho da experiência pessoal com Deus, realizada na comunidade eclesial. Essa experiência, fundamental na vida cristã, não se dá sem menos. Há um processo que a proporciona. O catequista deve ser alguém que favorece essa experiência, que acompanha o iniciante na fé, ajudando-o a fazer esse mergulho no mistério, e não somente alguém que ensina ou mantém a fé já despertada. Alguém que ajuda sua gente a se render diante do mistério escondido do Pai, revelado em Jesus Cristo por seu Espírito. Nada melhor que a força da liturgia.
A liturgia católica – não só a Missa – nada mais é que a celebração do mistério da morte e ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, por meio de quem o Pai se dá a conhecer, na ação do seu Espírito (Cf. DGAE 2008-2010, 68). Quando se fala em liturgia, poder-se-ia pensar logo no ministro ordenado, no presbítero. De fato, ele é o homem da liturgia. Mas a liturgia no seu sentido amplo não é campo exclusivo dos ministros ordenados. Todo batizado é sacerdote, profeta e rei, aprendemos desde cedo essa verdade anunciada pela Igreja. O catequista também celebra, pois é sacerdote. Afinal, somos povo sacerdotal e nação santa (Cf. Ex 19,6; 1Pd 2,9). O catequista não é um ministro ordenado, é claro, que tem suas funções litúrgicas próprias. Mas eu até me atreveria a dizer que o catequista, pelo batismo[7], é tão sacerdote quanto o presbítero; só não tem o ministério ordenado para o exercício específico de alguns ritos. O leigo deve e pode assumir suas funções sacerdotais: deve ser um mistagogo, aquele que celebra o mistério de Deus no meio de seu povo, proporcionando aos seus catequizandos uma autêntica experiência do Deus escondido. Ele prolonga na catequese, o maravilhoso mistério da Eucaristia: Deus ressuscita Jesus, pela força de seu Espírito, e com ele todos nós que o acolhemos.
A liturgia é fonte e cume da vida cristã, já disse o Concílio (SC, 10). Se é fonte e cume da vida cristã, toda expressão de fé vem dela e nela desemboca. Ou melhor, ela é a expressão do encontro de Deus com sua gente e de sua gente com seu Deus. Os catequistas são desafiados hoje a fazer da catequese uma liturgia, um encontro orante, de forma que os catequizandos sintam vontade de voltar para o próximo encontro, mesmo que ali ele tenha ido por acaso, e não tanto por convicção. Um catequista que dá à catequese esse tom celebrativo, que como dirigente do encontro ajuda sua turma de catequese a fazer seu mergulho no mistério, é algo a que a comunidade de fé tem direito. Ou nós rezamos bem com nossos catequizandos ou nossa catequese vai ficar vazia. Espera-se, pois, que o catequista seja um mistagogo, mais que um mestre ou um professor. Alguém que celebre a vida e o mistério, não que apenas os explique. Com isso não se quer afirmar que não se deva ensinar, dar explicações, pois faz parte da catequese também ensinar. Celebrar a vida e o mistério não exclui o múnus de explicar, afinal o povo – mesmo as crianças – tem direito à teologia. O risco do qual devemos fugir é o de catequizar demais a cabeça e pouco o coração, ou seja, falar do mistério de Deus sem se envolver e sem envolver o povo no mistério celebrado.
d) Uma catequese sistemática, organizada
O caráter narrativo da catequese, a centralidade do querigma e o tom celebrativo dos encontros dão a ela leveza e consistência ao mesmo tempo. Leveza, porque ela não está baseada em uma doutrina ou um conjunto de leis, mas em uma pessoa concreta a quem o ouvinte adere incondicionalmente. Consistência, porque essa pessoa a quem se adere é o próprio Deus que ama e interpela o ouvinte. A catequese não se confunde com uma reflexão improvisada; ela provoca um mergulho em Deus, um encontro com Deus. Esse encontro exige uma teologia elaborada, com seqüência de temas concatenados e com rigor lógico, mas com pedagogia própria – é claro! A catequese não é aula. É iniciação no mistério de Jesus Cristo morto e ressuscitado. É algo bem mais circular que linear, mais vivencial que intelectual, mais afetivo que racional. Mas isso não elimina o caráter organizado, intelectual e racional da experiência da fé. Não tira da catequese sua obrigação de dar respostas razoáveis, de procurar entender as razões da fé.
Se a catequese não é aula, por que os encontros catequéticos ainda se encontram baseados na pedagogia escolar? Urge mudar essa realidade catequética, que ora apresenta no cenário da Igreja a catequese como aula de religião. É bem verdade que nossos catequistas já deram alguns passos importantes: a catequese nem sempre é mais nas escolas; nem sempre tem formato de sala de aula (ambiente quadrado, com quadro, giz, carteiras e mesa do professor); nem sempre usa livro da criança, caderno; nem sempre faz arguições e provas no final de seu percurso. Mas, apesar de todo esforço catequético, mesmo nas turmas que já passaram por essas mudanças, sobrevive em nossa prática pastoral a pedagogia do ensino-aprendizagem, própria das escolas. Seja priorizando o ensino – conforme modelo da tábula rasa – ou dando maior ênfase à aprendizagem – conforme modelo do construtivismo –, nossa catequese ainda é totalmente escolar. Ela tem sido bem pouco um encontro com Deus e com os irmãos de fé. A pedagogia da iniciação – própria da fé – nem sequer é conhecida pelos catequistas. Eles têm sido no máximo formados para serem professores de religião, num curso de preparação para os sacramentos. Não são formados para serem mistagogos, que iniciam seus catequizandos na fé, ajudando-os a fazerem sua experiência de Deus. É bom lembrar que a catequese não deve perder seu caráter sistemático, organizado, e cair no improviso. Mas, mesmo mantendo seu caráter sistemático – e ela deve fazê-lo – é urgente recordar que suas bases não estão na pedagogia escolar; que ela tem metodologia própria. Ainda que tenha que dar conta da razão, desafio maior na Pós-Modernidade é dar conta do coração: é promover o encontro do catequizando com Deus, na vida eclesial.
Oxalá não falte aos catequistas a coragem necessária para seguir os impulsos do Espírito que guia a Igreja, fazendo rupturas importantes com o esquema do passado para dar espaço ao novo, sem, no entanto, desprezar o tesouro precioso da fé, conservado com zelo pela Igreja durante esses milênios.
-
 500. “Misericórdia eu quero, não sacrifícios” (Mt 12,7).01.04.2025 | 1 minutos de leitura
500. “Misericórdia eu quero, não sacrifícios” (Mt 12,7).01.04.2025 | 1 minutos de leitura
-
 499. “Deus manifestou poder com seu braço: dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração”. (Lc 1,51)25.03.2025 | 1 minutos de leitura
499. “Deus manifestou poder com seu braço: dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração”. (Lc 1,51)25.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 457.Bendita memória21.03.2025 | 1 minutos de leitura
457.Bendita memória21.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 498. “A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador”. (Lc 1,46-47)18.03.2025 | 1 minutos de leitura
498. “A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador”. (Lc 1,46-47)18.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 456. Contra as leis injustas14.03.2025 | 1 minutos de leitura
456. Contra as leis injustas14.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 497. “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo sua palavra”. ( Lc 1,38)11.03.2025 | 1 minutos de leitura
497. “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo sua palavra”. ( Lc 1,38)11.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 455. Nas ondas da fé07.03.2025 | 1 minutos de leitura
455. Nas ondas da fé07.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 23. O que é a benção sacerdotal, é o mesmo que shalom?05.03.2025 | 3 minutos de leitura
23. O que é a benção sacerdotal, é o mesmo que shalom?05.03.2025 | 3 minutos de leitura
-
 496. “Não temas, Maria, encontrastes graça diante de Deus”. (Lc 1,30)04.03.2025 | 1 minutos de leitura
496. “Não temas, Maria, encontrastes graça diante de Deus”. (Lc 1,30)04.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 452. O que fazer07.02.2025 | 1 minutos de leitura
452. O que fazer07.02.2025 | 1 minutos de leitura
- 56. Novas configurações dos sujeitos urbanos12.08.2024 | 10 minutos de leitura

 55. Silêncio e anonimato feminino, uma palavra sobre a importância da hermenêutica bíblica feminista14.05.2024 | 33 minutos de leitura
55. Silêncio e anonimato feminino, uma palavra sobre a importância da hermenêutica bíblica feminista14.05.2024 | 33 minutos de leitura
 54. Transfiguração às avessas11.03.2024 | 34 minutos de leitura
54. Transfiguração às avessas11.03.2024 | 34 minutos de leitura
 54. Da Sacristia e da Secretaria à Academia17.01.2024 | 48 minutos de leitura
54. Da Sacristia e da Secretaria à Academia17.01.2024 | 48 minutos de leitura
 53. Deus Espírito, como delicadeza e leveza11.09.2023 | 28 minutos de leitura
53. Deus Espírito, como delicadeza e leveza11.09.2023 | 28 minutos de leitura
 52. O confronto entre Amós e Amasias03.07.2023 | 17 minutos de leitura
52. O confronto entre Amós e Amasias03.07.2023 | 17 minutos de leitura
 51. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10,33-34)05.06.2023 | 20 minutos de leitura
51. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10,33-34)05.06.2023 | 20 minutos de leitura
 50. A relevância do silêncio no magistério de Francisco08.05.2023 | 32 minutos de leitura
50. A relevância do silêncio no magistério de Francisco08.05.2023 | 32 minutos de leitura
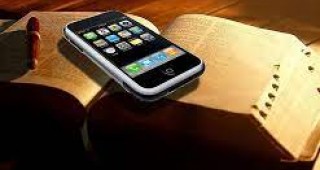 49. Evangelização e cibercultura: Desafios, limites e possibilidades17.04.2023 | 18 minutos de leitura
49. Evangelização e cibercultura: Desafios, limites e possibilidades17.04.2023 | 18 minutos de leitura
 48. Entre a continuidade e a ruptura: o discernimento na Sagrada Escritura27.03.2023 | 20 minutos de leitura
48. Entre a continuidade e a ruptura: o discernimento na Sagrada Escritura27.03.2023 | 20 minutos de leitura




