53. Deus Espírito, como delicadeza e leveza
Ler do Início
11.09.2023 | 28 minutos de leitura

Acadêmicos

Eduardo César Rodrigues Calil
Solange Maria do Carmo
1. Introdução, ou: “nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo” (At 19,2)
Será preciso começar refazendo minimamente os passos de Paulo apóstolo, em Éfeso, de acordo com a narrativa lucana, em Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo vai a Corinto, diz o texto, Paulo atravessa o planalto e chega a Éfeso, onde se encontra com alguns discípulos e lhes pergunta: “Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé?” (At 19,2a). A narrativa nos põe diante de uma resposta curiosa: “Mas nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo” (At 19,2b). A resposta dos discípulos de Éfeso desata na catequese de Paulo sobre o batismo em nome de Jesus e na recepção do Espírito.
Apesar de a exegese colocar dúvidas no fato de a resposta apontar para um desconhecimento do Espírito Santo entre os efésios que receberam o batismo de João, uma coisa é certa: a resposta dos interpelados é contundente: “nem ouvimos dizer...”. Teologicamente, a questão é posta para apontar um terreno fértil para a pregação apostólica. “Nem ouvimos dizer” é ignorância aberta à audição, pela qual se chega a fé. Não se trata de não querer saber do Espírito, de dar de ombros, de ser indiferente a ele, mas de apresentar uma falta que pode ser suprida pela pregação paulina.
A resposta dos discípulos de Éfeso calha muito bem com a realidade eclesial da Igreja no Ocidente. Não teria a Igreja latina esquecido o Espírito Santo? Denunciado na pena de muitos teólogos, esse esquecimento foi tratado como sintoma, mas sintoma de quê? Tal esquecimento é, de fato, revelador da dificuldade de nomeação ou de sistematização teológica a respeito da pessoa do Espírito, especialmente quando são recolhidos da teologia da Igreja Ocidental inúmeros entraves na harmonização linguística e dogmática, para mostrar a igual divindade do Espírito em relação ao Pai e ao Filho. Certamente, o Espírito Santo não foi esquecido, pois ele mesmo, na sua ação santificadora, nos obriga a recordá-lo. Mas a sistematização teológica – especialmente a genética da afirmação do Espírito como Deus – não foi fácil sequer para os padres da Igreja. Devido a essas dificuldades, tal tarefa foi muitas vezes contornada ou deixada de escanteio, o que não aconteceu com a figura do Pai e do Filho.
Esse esquecimento não é, contudo, apenas uma dificuldade teológica, percebida até os dias atuais, mas é também um sofrimento, um mal-estar eclesial notado a partir das consequências graves que se fazem sentir. Tal mal-estar é revela-dor pois aponta para a tentação de extingui-lo. Fazer memória do Espírito pode ser muito arriscado para uma Igreja piramidal, hierarquicocêntrica, clericalista, preocupada em justificar-se a si mesma como centro de poder mundano, especialmente em sua diferenciação quase cátara e hipócrita em relação ao mundo.
Este texto buscará, portanto, refazer o caminho da ignorância que se abre à audição da fé. Ele começa com uma parte bíblica, buscando as muitas imagens do Espírito para tentar, num passo seguinte, fazer uma sistematização teológica do “rosto” do Espírito, a partir da noção de dom, que casa bem com ternura e cuidado e aniquila os rompantes de violência que hoje se instalaram na fonética cristã. Em seguida, deter-se-á um pouco mais no diagnóstico corriqueiro dos teólogos de que o Espírito foi esquecido no Ocidente, trabalhando a noção de memória, assim como dois conceitos psicanalíticos: o de negação e o de foraclusão, retirados de seu ambiente de aplicação em diagnose de estruturas clínicas e aplicados aqui à eclesiologia. Em seguida, o trabalho será recuperar uma das feições do Espírito, muito urgente e necessária ao nosso tempo: a ternura, que deve ser entendida menos como uma memória intelectual e mais como dado sensível, uma memória da vida, mais próxima da mistagogia e da teografia, próprias de uma teologia espiritual.
2 As muitas imagens do Espírito
Na Sagrada Escritura, o Espírito é muitas vezes falado a partir de símbolos que não escondem alguma similaridade, pois evocam movimento, dinâmica, transformação. A partir desses símbolos, instalou-se uma polifonia de muitos nomes.
2.1 Uma polifonia
O Espírito da diversidade é diverso até em sua nomeação. Essa polifonia ajuda a entender, tanto quanto possível, a música do Espírito da Vida.
2.1.1 Vento
O próprio nome hebraico ruah, que designa o Espírito de Deus, significa vento. Esse nome é feminino no hebraico e, por isso, para alguns teólogos como Durwell, o Espírito seria o próprio seio feminino de Deus, onde o Filho é gerado eternamente . Nessa compreensão, ruah seria o feminino em Deus. Outros teólogos se mostrem mais cautelosos com essa aproximação, como é o caso de Yves Congar, apesar de este assumir que o Espírito é materno e feminino . No grego, entretanto, a tradução de ruah é pneuma (termo neutro) e, no latim, é spiritus (termo masculino). Mas, como afirma Codina, “deixando à parte o fato de “espírito” ser feminino no hebraico (ruah), neutro em grego (pneuma) e masculino em latim (spiritus), as funções do Espírito se referem à maternidade e feminilidade: inspirar, ajudar, apoiar, exprimir ternura, fazer nascer, incubar, dar vida...” .
A imagem do vento é uma das mais caras para falar do Espírito. O vento conserva em seu simbolismo o caráter invisível: não é visto, mas é sentido. Faz desenhos com as nuvens, empurra os rios em seus leitos, sopra nos veleiros, confere movimento. É imanipulável. Sendo intangível, ele toca e se faz sentir. Não o vemos, mas ele canta e também baila nas folhas secas. Toda simbologia, no entanto, é ambígua. O vento também provoca catástrofes, desastres, tempestades. Embora o Espírito Santo não esteja associado ao poder destruidor do vento, não é possível eliminar a ambiguidade do símbolo: o vento do Espírito também é impetuoso, forte e pode, num vendaval, num redemoinho, modificar e transformar a realidade marcada pela tristeza e pela violência.
Nas Escrituras, o vento, ou o Espírito de Deus, pairava sobre as águas e as agitava, quando tudo era caos e escuridão. As águas, símbolo ancestral da morte, do fluxo incontrolável, esconderijo de monstros, não são nada senão criação de Deus que as organiza, que sopra sobre elas seu vento-Espírito (Gn 1,2). É com esse mesmo sopro que ele insufla de vida as narinas do primeiro ser humano (Gn 2,7). Sem o Espírito, a ruah de Deus, o ser humano é apenas pó (Sl 104,29).
O vento também se mostra presente na vida de Elias e se faz sentir num momento de profundo desconsolo, quando o profeta pode abrigar-se apenas na rocha que é Deus. Na experimentação desse abrigo, como uma complementaridade entre sentir-se guardado e sentir-se consolado, se dá a experiência da brisa, da delicadeza, da ternura de Deus, que não é furacão, nem terremoto, nem fogo, mas é abrigo, consolação e ternura. Uma brisa...E desde essa teofonia às avessas, fica marcada uma retomada do caminho. É isto que Elias faz: renovado pela brisa de ternura, volta a caminhar.
É esse mesmo vento-Espírito que sopra sobre o campo de ossos para fazer os mortos ressuscitarem (Ez 37,9), numa das imagens do Espírito-consolador mais profundas e belas do Antigo Testamento. O Espírito dá vida. Na literatura neotestamentária, por sua ação, o Pai ressuscita os mortos para a vida definitiva e o próprio Cristo é levantado por ele – é o que afirmará a teologia da ressurreição. O Espírito também ressuscita os discípulos amedrontados e fechados, levantando-os do derrotismo depois da perda do mestre como pode ser visto no batismo da Igreja em Pentecostes. Mas, no Antigo Testamento, a imagem do Espírito manifesta a vitória da vida sobre a morte como promessa de uma nova aliança. Os ossos, que representam a esperança desfeita do povo, serão levantados e receberão carne e espírito. É a esperança que renasce pelo sopro da ternura divina... O Espírito dá vida e faz renascer a esperança.
O vento também é o alento do Senhor (Sl 104,30), o hálito vital de Deus, de que o ser humano costuma se esquecer quando recorre aos ídolos (Sb 15,11). Enquanto os ídolos são de barro, ou possuem pés de barro e pedem sacrifícios humanos, o humano é barro cheio do hálito vital de Deus, chamado à relação com esse Deus da vida.
Esse mesmo vento sopra onde quer, sem deixar saber para onde vai, como narra o evangelista João no diálogo de Jesus com Nicodemos (Jo 3,8). Fica reafirmado que o Espírito é imanipulável e sua missão não está presa aos territórios de Israel. O Reino de Deus não é o Reino de Israel e o Espírito não pode ser contido nas fronteiras de um território, mas circula livremente por onde quer .
O vento é também o que se identifica no último suspiro de Jesus na cruz, que, ao inclinar a cabeça e entregar o Espírito, entrega-o como vida nova a todos . É também o sopro de Jesus ressuscitado, naquele primeiro dia de uma nova vida, que faz dos discípulos novas criaturas, bem como lhes confere a responsabilidade de ser sinal de reconciliação entre todos. É o vento de Pentecostes que arranca os discípulos do medo e os coloca de novo a caminho, conferindo-lhes coragem (At 2,2).
Enfim, o vento é sinal de vida e movimento; sua invisibilidade não o torna menos real nem menos necessário. Para reconhecer a importância do vento, basta recordar a respiração. Ao perder o ar por instantes, experimenta-se o quanto é fundamental respirar. O Espírito é vento; é a respiração amorosa de Deus. E, sem respiração, não há Palavra.
2.1.2 Fogo
O fogo também é uma imagem ambígua. Ao mesmo tempo que é símbolo de luz que dissipa as trevas bem como imagem de aquecimento em meio ao frio, o fogo mostra-se devorador, destruidor. A ambiguidade do símbolo aponta para o fogo de Deus, que transforma, devora e destrói tudo aquilo que impede a vida de irromper.
A Sagrada Escritura, entretanto, mostra Deus falando de uma sarça que arde, mas não se consome (Ex 3,3). O fogo no Sinai, que acompanha a teofonia, é imagem forte do Espírito que age na consciência de Moisés, num chamado inequívoco para libertar, em nome de Deus, o povo oprimido.
No Novo Testamento, Jesus aparece como aquele que fará acontecer um batismo no fogo (Lc 3,16). Seu Espírito transforma por dentro; ele não realiza apenas um rito exterior, não é apenas água que lava e purifica por fora, mas é fogo que faz arder, possibilitando uma vida nova. Também Jesus prometeu trazer fogo à terra (Lc 12,49) e fez do coração dos humanos um lugar onde essa chama arde, como se fora agora um novo Sinai, no qual Deus inscreve sua lei.
Não são línguas de fogo que descem sobre os discípulos e a mãe de Jesus no Pentecostes? (At 2,1-4). Com essa efusão, os apóstolos falam e são compreendidos, cada qual em sua língua. O Espírito é o fogo que leva à unidade em meio à diversidade. Esse fogo transforma as diferenças enquanto sinal de divisão e caos (como em Babel) em diferenças que se comunicam e se compreendem.
Símbolo da força, do calor que aquece o frio, o fogo não pode ser extinto, assim como não se deve extinguir o bom ânimo, a coragem, a esperança e o dinamismo do amor. “Não extingais o Espírito” (1Ts 5,19), lembra Paulo, referindo-se muito provavelmente ao discernimento. Sem discernimento, o próprio lume da razão, o fogo da lucidez apaga-se e tudo vira noite. Se por um lado, o Espírito-fogo queima e destrói; por outro, abriga e aquece com ternura como colo de mãe.
2.1.3 Água
Em diversas culturas, as águas são símbolo do caos e da morte, lugar onde se escondem criaturas perversas e sombrias. Estão ligadas também a muitos ritos de purificação por aspersão ou ablução, em muitas religiões politeístas, bem como nos monoteísmos. Elemento considerado vital por muitas mitologias, é compreendida em alguns arqueísmos pré-socráticos como fundamento e é lida pela ciência como essencial para a sobrevivência. Polissêmica, a água é compreendida como purificadora, curativa, fecunda, transformadora.
Para falar do Espírito, a água também é uma simbologia muito empregada. O Senhor a derrama sobre seu povo, purificando-o de toda imundície e dando-lhe um novo espírito (Ez 36,25-28). No Templo, ela brota no Oriente e vai desembocar no Ocidente, curando e vivificando (Ez 47,1-12). Assim, a água serve para falar da ação purificadora do Espírito (Is 1,18; Sl 51,9; Mc 7,3-4; Jo 2,6), bem como de sua cura e vivificação. O Espírito nutre a terra do coração, alimenta a vida e se mostra fundamental para a existência de toda a criação.
Jesus promete à samaritana água que brota para a vida eterna (Jo 4,10-14). Essa água é viva; ela não se encontra no poço de Jacó e tem o condão de desligar da idolatria, das tradições mortas e de uma adoração estéril. É agua de fonte, não água parada de poço. É água misteriosa, pois sacia, mas também alimenta a sede.
Água viva é também o que brota do lado aberto de Jesus (Jo 19,34), simbologia que tem forte conotação batismal pois é pelas águas do batismo que se é mergulhado na morte de Cristo e se ressuscita com ele para uma nova vida.
Na simbologia da água, o Espírito é ação transformadora de Deus que irriga o solo da vida, muitas vezes ressequido e estéril, bem como sacia e alimenta a sede dos que o buscam. O Espírito de Deus torna a vida possível, assim como a água.
2.1.4 Óleo e Perfume
O óleo é símbolo de cura, remédio para as feridas. Com óleo, são marcados os reis, os sacerdotes ou mesmo os antigos profetas. A unção, seguida de palavras sagradas, não é desconhecida de muitas tradições como sinal de algum encargo especial. Geralmente, o óleo é perfumado para que o odor que emana sinalize a sobredeterminação da função ou a separação em relação aos outros.
Os reis de Israel são ungidos e, por meio da unção com óleo, entende-se que eles recebem o Espírito para desempenhar suas funções. Essa unção tem como principal motivação fazer saber que o rei é um lugar-tenente de Deus no meio do povo e que deve governar segundo o direito e a justiça, sobretudo para com os mais pobres (Sl 72,1). Os reis, como já era esperado, não cumprem essa missão, deixando aberta no meio do povo uma expectativa messiânica: a de um Messias (ungido), que levará a boa-nova aos pobres (Is 61,1). Essa unção messiânica, Jesus a reconheceu em si mesmo quando disse que o Espírito do Senhor está sobre ele. Ele é o ninho do Espírito, que desceu sobre ele como pomba em seu batismo no Jordão (Lc 4,21). Reconhecendo a unção que o Pai lhe conferiu, Jesus se apropria da profecia de Isaías, assumindo-se mensageiro da boa-nova aos oprimidos, anunciando o ano da graça do Senhor e não o dia da vingança, como muitos esperavam.
Jesus é chamado Cristo justamente por causa de sua unção pelo Espírito, que age nele durante toda a sua vida. Essa mesma unção recai sobre os batizados e os instrui interiormente (1Jo 2,20. 27) graças à doação do Filho. Antes de sua partida para junto do Pai, Jesus promete que não deixará seus seguidores órfãos, pois ele mesmo enviará Outro Consolador (Jo 14,26),
Se a unção é símbolo da eleição para determinada função, é o próprio Espírito que marca e consagra os crentes para a missão. Recebida essa unção pela unidade do sacramento batismo-crisma, fica conferida ao cristão a tarefa de continuar a missão de Jesus Cristo. Nesse sentido, o Espírito realiza a filiação divina, a fim de que os fiéis chamem a Deus de Abbá, Pai (Gl 4,6).
Nas Escrituras, o perfume não designa apenas uma sobredeterminação e uma separação; evoca antes algo agradável, uma presença de amor (Gn 27,27; Ct 1,3.12; 4,10-11). Ele é sinal de adoração (Ex 30,34-37)) e encarna também uma boa ação (Jo 12,3). Para os cristãos, indica o rastro da ternura de Jesus Cristo que a fé dissemina. Não se difunde o bom odor do Cristo sem o derramamento generoso e gratuito do óleo perfumado do Espírito Santo. Normalmente, na teologia cristã, a unção com perfume encontra-se associada ao sacramento batismo-crisma. No entanto, o perfume divino vem da vida no Espírito, à qual todos estão abertos, mesmo estando em outras igrejas que não a católica, em outras religiões que não o cristianismo, em outros povos e culturas. O Espírito é o amor que se derrama como óleo perfumado em nosso coração humano; seu perfume transcende os espaços e os limites impostos pelas organizações religiosas. O próprio Espírito é o espaço em que os homens e as mulheres de boa vontade se movem quando arriscam a passar a vida fazendo o bem, como Jesus o fez. A imagem do Espírito como óleo derramado sobre nós evoca a ternura de Deus, que não negligencia a vida humana e a coroa de bem-estar.
2.1.5 Pomba
A pomba que desce sobre Jesus em seu batismo, símbolo do Espírito, pode ser associada àquela pomba que volta à arca após o dilúvio (Gn 8,11). Essa associação não é equivocada, especialmente se a ela for acrescentado o fato de a pomba ser símbolo de paz, o que é empregado culturalmente à revelia. A imagem da pomba mostra a presença concreta do Espírito Santo sobre Jesus e sua comunidade de fé. O Espírito pousa sobre Jesus: ele é ninho do Espírito, seu habitat natural (Lc 3,21s).
Não é à toa que o Espírito é posto sob a égide da imagem da pomba, que evoca serenidade, tranquilidade, consolo, não causa medo. Ela evoca a ternura, a sensibilidade (Mt 10,16), a paz; todas essas características que devem ser determinantes para os que foram marcados com o selo do Espírito.
2.1.6 Nuvem
A nuvem, como símbolo, tem parentesco com o vento; é imanipulável. Presentifica o mistério, o que está oculto, aquilo que não se pode discernir muito bem. Nas Escrituras, a nuvem evoca o mistério do Deus libertador que guia o povo no deserto (Ex 40,34-38). Ela envolve o Sinai, lugar da revelação, como lugar de manifestação do Deus que não pode ser contido (Ex 24,15-18).
A simbologia da nuvem também está presente na concepção do Filho de Deus. Segundo Lucas, a nuvem do Espírito cobre Maria com sua sombra (Lc 1,35-36) para realçar a entrega de Jesus ao mundo como dom de Deus, como aconteceu com a Torá. A nuvem está presente também na Transfiguração, narrativa que antecipa a ressurreição de Jesus como destino após a cruz (Mc 9,7).
Assim, a nuvem é um forte simbolismo para indicar o Espírito como aquele que vela e revela o mistério do Pai, como aquele que acompanha o povo de coração aberto a Deus. Na sua ternura, Deus se faz presente nos envolvendo num abraço consolador do Espírito.
2.1.7 Advogado e Consolador
O Espírito é acompanhante seguro. Uma das imagens usadas por Jesus no Evangelho de João é a de paráclito. Traduzido muitas vezes por advogado, consolador, sentidos que não estão equivocados, a palavra paráclito tem também um sentido etimológico forte: paráclito pode ser entendido como “aquele que está do lado”. E, de fato, na Escritura, o Espírito aparece como aquele que está junto (Jo 14,15-17), não deixando órfãos os discípulos de Jesus (Jo 14,18). É ele quem estende a missão de Jesus Cristo, limitada ao espaço-tempo, para além das cercanias geográficas e temporais.
O Espírito é também aquele que está ao lado como revelador da verdade (Jo 14,17), recordando o ensinamento de Cristo e atualizando-o, ou tornando-o sempre novo. Como Espírito da verdade, está ao lado para ajudar os discípulos a discernirem os acontecimentos (Jo 16,12-15) e também para glorificar o Cristo na entrega de amor estendida ao Pai (Jo 16,14). Ele glorifica o Pai na nossa entrega de amor da vida diária, toda vez que essa oferta é feita por Cristo, com Cristo e em Cristo.
Esse Espírito defende os companheiros de Jesus, como o Go’el do Antigo Testamento. Ele é a própria misericórdia e ternura do Pai, através do Filho, em favor dos crentes (1Jo 2,1-29; Ap 12,9-11).
2.1.8 Outras imagens
Muitas outras imagens ainda são empregadas na Sagrada Escritura para falar do Espírito Santo, tais como o vinho, a festa, a alegria (Jo 2,1-2); o selo ou o sino impresso nos cristãos como marca que autentica algo (Ef 1,13); o penhor ou os bens futuros como imagens de um grande ganho (Ef 1,14); o dedo de Deus, a autoridade de Jesus pela qual ele expulsa demônios (Mt 12,28; Lc 11,20) . Não faltam nomes nessa polifonia.
2.2 Caminhando: o Espírito referido a Jesus
Todas essas imagens fundamentais do Espírito, articuladas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, parecem se referir ao Espírito em sua função/missão e às suas características. A sua função/missão parece estar designada pelos símbolos que são referentes a dinamismo, vida, força, tais como vento, fogo, água, advogado etc. Às suas características, parecem estar associados os símbolos do perfume, do vinho, da unção, da pomba, o que parece fazer possível adjetivar o Espírito com caraterísticas de suavidade, doçura, ternura, alegria, fecundidade.
Se no Antigo Testamento o Pai promete o Espírito, é o Filho – o pleno do Espírito – quem o entrega abundantemente aos seus seguidores. Não é possível falar do Espírito sem falar de Jesus. Não há missão do Espírito que seja desligada da vida e do destino de Jesus. Como lembra Codina, o Espírito “não tem outro conteúdo senão o de Jesus” . No seu dinamismo, o Espírito está referido a Jesus; em suas características, o Espírito está referido a Jesus. Ele é o Espírito de Jesus.
2.3. Mais um passo, ou: correspondências trinitárias
O Espírito é criador que dá vida a todas as coisas e é por meio de quem tudo foi feito. Presente na história humana, ele fala pelos profetas, recordando a aliança e a libertação de Deus. Ao mesmo tempo, pode ser percebido como sabedoria de Deus que ilumina os corações. Desse modo, é impossível separar o Espírito de sua ação na criação, na vida dos profetas e como sabedoria dada aos crentes; três ações que sintetizam bem sua presença revelada no Antigo Testamento. Esse mesmo Espírito prepara a vinda do Messias que é, segundo os padres orientais, o grande precursor do Espírito, cuja missão seria a entrega do Espírito Santo.
A vida de Jesus é toda vida no Espírito. Já na sua concepção, o Espírito se faz presente e operante. No batismo, Jesus é autorizado pelo Pai, na força do Espírito Santo, sem o qual, o Filho nada realiza . Toda palavra e ação do Cristo têm autoridade, pois ele fala e age pelo Espírito Santo. Tal dependência do Espírito não despersonaliza Jesus; não o subalterniza, tampouco, mas mostra que o Espírito do Pai é o mesmo Espírito do Filho. O Pai e o Filho conspiram, ou seja, têm a mesma respiração, são motivados pelo mesmo amor, permanecem unidos no laço de um mesmo Espírito. O Espírito está presente em toda a vida de Jesus: no batismo, na transfiguração, na morte, como Espírito entregue aos discípulos, e, na ressurreição, como Espírito que levanta Jesus da morte. Assim, Jesus ressuscitado no Espírito, participando da vida de Deus, entrega o mesmo Espírito para que sua missão seja continuada. Essa inseparabilidade perceptível do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o cerne da teologia trinitária.
As missões do Pai, do Filho e do Espírito Santo podem ser identificadas, respectivamente como: criação, salvação e santificação. Mas não há criação sem o Espírito e sem o Palavra que se fez carne (Jo 1,1-18); não há salvação sem o Espírito que nos conduz ao Pai, e não há santificação que não remeta ao sacrifício de louvor que Cristo ofereceu a seu Pai. Essa especificidade da missão de cada uma das pessoas divinas está unida à circularidade que há entre as mesmas.
O que se vê do Espírito, então, na economia da salvação e que, portanto, diz respeito à essa pessoa divina? Ele é criador com o Pai, salvador com o Filho e santificador, mas não sem o Filho, e sempre para o Pai. Mas além de santificador, o Espírito é vivificador, porque é o Espírito da Vida e o Espírito que dá a Vida. Nesse sentido, ele é a própria força terna e operante de Deus; é força vital no povo de Deus que o ajuda a renascer de uma vez por todas em Cristo e tantas vezes quantas forem necessárias, até que cada um seja como Cristo, perfeito em unidade com o Pai e entre todos (Jo 17,21-23).
2.4. Um passo antes do esquecimento: um nome para o Espírito
Se o Espírito Santo tem um nome, poderíamos enunciá-lo como dom de Deus , pois ele explicita a continuidade da ação salvadora de Cristo. Assim, dizer que o Espírito confere os sete dons não é suficiente; ele é o próprio dom septiforme. Ele é o dom do amor-ternura, ou o próprio amor-ternura como dom, derramado em nossos corações (Gl 4,6). É dom de Deus, através de seu Filho. É dom do Crucificado-ressuscitado e comunicação de sua presença no mundo, pois – em sua ternura – Jesus não deixou os seus abandonados em sua partida para o Pai (Jo,14,18). Esse dom comunica, sempre e de novo, a novidade de Jesus Cristo: ele ensina quem é Jesus.
O en-sino do Espírito tem pouco a ver com a atividade intelectual. É bem mais a impressão de um sinal, de um sinete, pelo qual se imprime nos corações o amor-ternura como mandamento, não vindo de fora, como uma lei que escraviza, mas como realização da vida em abundância, como gratuidade que se derrama da comunhão com o Cristo. Ao recordar quem é Jesus, o Espírito nos obriga a fazer memória, levando-nos a uma atualização daquilo que não caduca: a própria vida do Cristo. Re-cor-dar Jesus significa trazê-lo sempre de novo ao coração, atualizando sua ação terna no mundo. O ensino e a recordação possibilitam que a vida de Jesus não fique presa nas cercaduras espaço-temporais. A salvação perene de Jesus, cujos efeitos são recolhidos até hoje, é universalizada, atualizada e interiorizada pelo dom do Espírito Santo.
Se o Espírito é dom, cuja função é ensinar e recordar a vida de Jesus, por que o esquecimento de dom tão precioso?
3. Memória e esquecimento
A memória nasce da experiência. Algumas experiências são sem expressão. Outras têm não só expressão, mas têm também impressão. Essas experiências estão impressas na memória, mesmo as mais imemoriais, que se encontram no nosso inconsciente. Assim, a recordação não se dá como a leitura de uma letra morta, mas como reinvenção e reelaboração de uma porção de experiências, num exercício contínuo de preenchimento de lacunas.
3.1. Sobre a memória e o esquecimento
O Espírito é espírito da Vida e, como tal, está intrinsecamente ligado às experiências humanas mais vitais, essas que nos impulsionam a continuar vivendo, a persistir contra toda desesperança, a continuar amando contra todo ódio e a resistir sem perder a ternura. O Espírito abre as sendas da vida e o contingente de possibilidades da existência, autorizando cada um a buscar sua própria unicidade, a fazer suas próprias experiências, a abrir portas fechadas pelo medo ou pelas estruturas de morte. O Espírito faz a vida resistir à morte e a suas estruturas. Como Espírito consolador, ensina a reelaborar, com seriedade e respeito, as experiências de morte e a investir em experiências de vida. Com a fragílima potência do amor, o Espírito promove a construção da boa vida e dissipa a morte e seu aguilhão; ele redescobre a ternura soterrada sob as cinzas da dureza e da ignorância.
O Espírito lança a memória do Filho como um horizonte no qual a vida deve ser configurada. A memória da vida como condição de construção e refazimento das próprias condições de viver e amar é labor do Espírito. Essas missões invisíveis do Espírito não são de modo algum uma experiência noética, racionalista simplesmente, embora possam ser isso também. São experiências sensíveis, dadas no encontro ou em circunstâncias da vida que desatam os nós, os nós apertados da tristeza e dos sofrimentos que endurecem os corações. Fazer memória desses acontecimentos é sempre redespertar a sensibilização que essas experiências geraram.
Assim, o esquecimento do Espírito se torna ainda mais radical. O esquecimento não se encontra ligado somente às dificuldades teológicas de elaboração do “tema” do Espírito e sua personalidade. Não se trata apenas de uma simples dificuldade sistemática e teológica. O Espírito, que sopra onde e como quer, pôs susto não apenas em Nicodemos (Jo 3,8), mas parece continuar assustando também a Igreja. Ele atrapalha a organização severa da instituição, pois não aceita peias. Mas, apesar de insistentemente colocado para fora de cena, ele bate frequentemente à porta da eclesia, atrapalhando o espetáculo tão certinho e planejado mas sem criatividade da instituição-igreja.
No contexto eclesiológico, nota-se uma negação do Espírito, talvez porque sua ação leva à pulverização da lógica de poder e refirma as liberdades individuais. Para não atrapalhar, o Espírito precisa ser trancado fora e é preciso guardar as portas com as chaves da negação. Não se trata como em Éfeso de um “não ter ouvido falar” do Espírito, mas de ter ouvido falar e de precisar fingir esquecer, para garantir a perpetuação de modelos eclesiais rígidos e falidos.
O Espírito, no entanto, tem seus modos de voltar em cena. Movimentos pneumatológicos põem em ato uma democratização de experiências de Deus e de acesso a ele que a Igreja institucional, como centro de poder, busca pulverizar ou abraçar, convertendo-os nela mesma, a fim de melhor controlá-los.
A negação do Espírito é tal que se pode falar ainda em foraclusão. Enquanto a negação diz respeito mais ao campo da fala, da comunicação, a foraclusão se refere à extinção do Espírito. Essa extinção é da ordem simbólica da linguagem, não uma extinção de fato, é claro. Ignora-se o Espírito; é como se ele não existisse, é um enceguecimento do sujeito eclesial à dinâmica do Espírito. Essa operação de extinção do Espírito tem consequências funestas e se faz ver apenas no seu retorno em experiências empobrecidas dentro da própria vida eclesial, como experiências avassaladoras, inclusive de esquizofrenia eclesial e teológica.
3.2 Consequências eclesiais da foraclusão
A rejeição do Espírito tem sérias consequências eclesiais. Abaixo são apontadas apenas três.
3.2.1 Extinção do estilo de Deus
Deus é amor com entranhas de ternura e misericórdia (1Jo 4,16; Is 49,14-17), e o Espírito é efetivamente o “estilo de Deus ”, afirma o teólogo José Gonzalez-Fauz. Esse estilo se mostra na harmonia dos contrários, pois a ternura tudo harmoniza, tudo suaviza. O Espírito faz unidade na pluralidade, como indicam algumas metáforas lucanas e paulinas. Ele integra a liberdade máxima com a entrega total, bem como representa a transformação da matéria e não sua negação, já que é derramado “sobre a carne” . Ele afirma a interioridade humana e a predispõe para a relação com o outro. Sem o Espírito, não é possível criar laços comunitários de ternura e bem querer. Ao extinguir o Espírito, extingue-se o próprio estilo do Deus terno; cultiva-se a indiferença e o ódio, que negam a diversidade em nome de uniformizações.
A extinção do Espírito é percebida na servidão voluntária e na alienação, na idolatria em relação a figuras de renome e relevo, seja no meio eclesiástico ou não, e de outro lado na libertinagem promíscua e na indiferença ao outro, bem como na busca do bem-estar à custa do sofrimento dos irmãos. Ela pode ser vista na negação do mundo e da vida; na dissimulação dos desejos e da experiência da sexualidade, na demonização de experiências desejantes e no fechamentos das vias do desejo, nos espiritualismos aluados, nas leituras do mundo e da vida desencarnadas da realidade.
Por fim, excluir o estilo de Deus quanto ao que ele revela de mais interior e comunitário faz aparecer o fechamento individualista e a fuga de todo e qualquer laço, gera discursos de ódio, atitudes violentas, faz olvidar a árdua tarefa da interioridade e da autenticidade, levando ao esquecimento de que “o mais meu é uma visita que recebo” .
3.2.2 Clericalismo
Da extinção do Espírito também procede a perda da noção de que toda a comunidade dos crentes é afortunada, “porque foi chamada a compartilhar a herança dos santos (klêros) na luz (Cl 1,12). Não existem, portanto, clero e laicato, mas uma comunidade...” . Sem o Espírito, a noção de pertença a Deus recai somente sobre alguns poucos homens; e o sacerdócio, que diz respeito a todo o povo de Deus, torna-se uma ordem clerical à qual só poucos privilegiados podem ascender. Da extinção do Espírito, procede um imaginário sacerdotal mais ligado ao legalismo do Antigo Testamento do que à ternura de Jesus Cristo . O clericalismo se sustenta sobre a ideia de um poder exclusivo, para realizar a consagração do pão e do vinho e para perdoar pecados. O Deus terno e materno, que acolhe e elege a todos, passa a ser visto como um monarca, que se cerca de alguns privilegiados que exercem o poder em seu nome. Esse poder especial dá destaque a alguns “eleitos” que são entendidos como mais próximos de Deus. A extinção do Espírito leva ao esquecimento do que o Mestre da ternura disse: “Eu, senhor e mestre, vos dei o exemplo, para que vós também laveis os pés uns dos outros” (Jo 13,13-14) e deságua na violência simbólica, psíquica e moral – quando não física – exercida em nome do próprio Deus.
A extinção do Espírito, leva a dois modelos eclesiológicos estranhos à fé cristã: a) uma eclesiologia teocentrada sem Espírito, que entende o povo como um bando de fiéis sem instrução e guia, e por isso necessitados de mediadores entre o céu e a terra; b) uma eclesiologia cristocentrada sem Espírito, que insiste nos ministros ordenados como cabeça do corpo de Cristo, única parte pensante e capaz de administrar todos os outros membros. Ambos modelos são inimigos da ternura e amigos íntimos do autoritarismo.
Uma eclesiologia pneumatocentrada pode redinamizar a vida da Igreja como diversidade e unidade. Ela recorda a todos os crentes que cada qual é povo de Deus e corpo de Cristo, bem como templo do Espírito. Mas uma eclesiologia pneumatocentrada sem Espírito também pode acontecer em experiências eclesiológicas desencarnadas, aluadas e desligadas de Jesus Cristo. Por outro lado, se o Espírito não é extinto, uma eclesiologia pneumatocentrada é sempre uma porta para uma experiência trinitária na Igreja.
3.2.3 Extinção da autoridade da verdade em nome da idolatria da autoridade
A verdade vos tornará livres, disse Jesus (Jo 8,32). Mas a verdade é apenas autoritarismo se for desvinculada do amor de Deus, sempre generoso, compreensivo e terno. Como lembra Gonzalez-Faus ao ler o Evangelho de João, “para o quarto evangelho esta verdade é, propriamente, o amor de Deus revelado por seu unigênito” . Na eclesia, não raras vezes, serve-se mais à segurança que à liberdade do Espírito. Falta pahesia, a coragem de enfrentar, em nome da liberdade e da verdade, inclusive as autoridades religiosas. Vive-se em nome da fé cristã uma espécie de amor pela alienação, de subserviência contumaz e de fechamento dos olhos diante de crueldades e das injustiças. A idolatria da autoridade é uma deformação da fé que peca contra a ternura de Deus e contra o Deus da ternura.
Também a autoridade da verdade é extinta nas manipulações da palavra divina, à qual o magistério da Igreja deve servir. Muitas vezes, os textos são interpretados favorecendo certas opções hermenêuticas em desfavor de outras. Erigindo-se como único intérprete da Escritura, o magistério da Igreja também extingue o Espírito. Afinal, não é a autoridade que produz a unidade, mas a caridade; esta deve ser a verdade que tem mais supremacia, especialmente, na Igreja.
A Igreja olha erroneamente o mundo e extingue o Espírito quando não presta atenção aos sinais dos tempos. Em nome da garantia de sua autoridade e poder, vê seu futuro como reconquista do que havia sido seu e deveria voltar a sê-lo. É com o olhar terno de uma mãe que a Igreja mantém viva a força do Espírito. Mais que uma mestra, que tudo sabe e tudo tem para ensinar, a Igreja encarna o estilo de Deus quando se deixa interpelar, quando pode reconhecer seus erros e recomeçar. Pela força terna do Espírito, ela não acusa o mundo, mas integra-se nele, acolhe suas realidades e semeia nele esperanças. O Espírito capacita a Igreja a olhar o mundo com a mesma ternura e empatia com que Jesus via os sofrimentos e os desafios de seu tempo. Daí a importância de invocar o Espírito da ternura, para experimentar de novo Deus e poder fazer dele uma memória vital, sensível inclusive ao corpo e não só à racionalidade. Uma memória que não é só herança, mas uma taça, porque (re)feitos por ela, pode-se aprumar o corpo, refazer as forças da alma e seguir adiante (Sl 15).
4 Espírito de ternura
Se Deus é amor, é também ternura. Mas que ternura?
4.1 Investigando o termo
Convém investigar a palavra, para que a ela seja inscrita em toda a sua radicalidade. Ternura, do latim, teneritia, indica algo desprovido de rigidez, de dureza, e remete a um “afeto interior vivido como participação viva, afetuosa e dinâmica” . A raiz da ternura já posiciona quem dela está permeado na contramão da rigidez e da inflexibilidade. Trata-se de uma participação afetuosa, viva, dinâmica, que se contrasta com a proposta de domínio e de anulação dos afetos em nome da razão .
O termo tem ainda outra origem: o adjetivo terno, vem de tenerum, que indica estender-se para, projetar-se, o que orienta a uma saída de si em uma relação de disposição, bem ao avesso do egocentrismo. Inflexibilidade, dureza e autocentramento podem ser retraduzidos, retranscritos com uma expressão bíblica que é “a dureza de coração” .
No árabe, por sua vez, ternura é halaqa e tem a ver com alisar (expressão de carinho), polir (expressão de zelo), tratar com bondade, cuidar afetuosamente de algo ou alguém.
No popular estamos muito acostumados a entender o termo ternura como afago, sensibilidade, mas não raras vezes, a trata-lo como sinal de fraqueza, falta de fibra. Há quem se incomode com um Deus que seja ternura, como se esta excluísse o vigor, como se lhe faltasse têmpora, coluna, mão forte e decisão. Para os que assim entendem, um Deus terno seria o mesmo que um Deus mole. Não sabem estes o quanto é forte alguém que se decide pela fragilidade da ternura. Sem ternura, não é possível responder à exigência do evangelho deixado por Jesus.
4.2 Da antropologia ao sentido bíblico
A ternura é uma força e uma força de amor humilde; é dom, acolhida, partilha . O caminho da ternura começa quando uma pessoa se dispõe a fazer-se terna consigo mesmo – e não condescendente e relapsa –, quando toma a termo a tarefa de aceitar-se a si mesma com seus próprios limites para redundar na humildade de aceitar os outros por aquilo que são, com bondade de coração e generosidade, fazendo-se terno para com eles . A ternura é também uma modalidade do ser. Daí, pode-se falar de um ser-ternura, ao invés de ter-ternura, pois a ternura diz respeito a uma aspecto da própria subjetivação. Em sua modalidade mais profunda, a ternura está ligada a um estilo de vida, o que faz dela não só uma escolha para circunstâncias precisas, mas sobretudo um modo de existir, de agir, de olhar, de falar, de ser, de se posicionar no mundo . Ela gesta a empatia, ensina a fazer-se próximo do outro para engrandecê-lo, para apoiá-lo sem subjugá-lo, de modo a lançá-lo em suas próprias potencialidades . E, sendo modalidade de ser e atitude de encontro verdadeiro com o rosto diferente do outro, a ternura torna-se sinal visível do amor e da gratidão/gratuidade. Como diria Bruno Forte: “Ternura é dizer ‘obrigado’ com a vida: e agradecer é alegria porque é reconhecimento humildade do ser amado” .
Não convém então que a ternura seja reduzida a um afeto simplesmente. Ela conduz à escolha do que há de melhor no ser humano, nas suas potências de vida, tanto ad intra, no autocuidado, como ad extra, no encontro com a face do outro. A experiência de tornar-se terno, de se eternurizar, começa certamente pelo corpo, pois a ternura não está desligada do éros. Uma relação negativa consigo mesmo termina numa relação horrível com o outro. Desinteressar-se de si mesmo e da vida, que é corpórea, material, erótica, é prejudicar a totalidade unificada do humano. “Quem quer que sejais, se quiserdes transformar a vós mesmos, começai pelo vosso corpo” . Ou como disse Khali Gibran: “quem procura separar o corpo do espírito e o espírito do corpo, afasta o coração da verdade” . Para Rocchetta, “o corpo é símbolo real da ternura, sendo por si endereçado a significar quanto realiza e a realizar quanto significa” .
Ligada ao éros, a ternura não está desligada da amizade; aliás “a amizade é o rosto visível da ternura" . Não pode passar despercebido o elogio escriturístico à amizade, comparando-a ao perfume e ao incenso que alegram o coração, à doçura que acalma a alma (Pr 27,9). Para o autor dos Provérbios, há amigos mais preciosos inclusive que os irmãos (Pr 18,24). A amizade se funda sobre as características da gratuidade e da intimidade, e a ternura é o modo-de-ser-no-encontro que efetua o afeto mútuo, a ajuda recíproca, a disponibilidade para dar e receber . De novo Khalil Gibran pode ajudar: “vosso amigo é vossa necessidade saciada” . A amizade, dentro do horizonte cristão, também remete à amizade com Cristo e a “amizade em Cristo confirma a amizade humana” .
Como disponibilidade ao amor e à amizade, alguns podem questionar dizendo que a ternura é um amor diminuído em relação à caridade cristã (ágape). A verdade é que essa distinção entre amor-philia (amizade), amor-erótico (éros) e amor-ágape é muito grega e existe apenas com função didática. O amor tem essas muitas nuances e, embora ágape possa ser entendido como a dinâmica do dom a que todo amor está aberto, não é preciso insistir numa espécie de separação categórica do amor, a não ser por sistematicidade. Nas palavras de Rocchetta: “é esta ideia de afeto terno, intenso que deve ser descoberta, em osmose de gratuidade exigido pelo mandamento novo do amor; somente então o conceito evangélico de ternura aparece e se revela no seu específico conceito teologal” .
4.3 A ternura de Deus
A ternura aparece como páthos de Deus . Em nuances de paternalidade, esponsalidade e maternidade, o páthos de Deus se manifesta, sobretudo, na compaixão de Jesus. Mas já no Antigo Testamento podem ser encontrados diversos trechos que mencionam a compaixão divina, como se lê em Isaías: “Eu sou o vosso consolador, aquele que tem compaixão de vós” (Is 51,12). No Novo Testamento, a misericórdia e a compaixão de Jesus são ditas como “contorcimento das entranhas”: Jesus é afetado e alterado pela alteridade. Aquilo que Oséias aplicava ao Pai, a saber, “meu coração se comove dentro de mim, minhas vísceras fremem de compaixão” (Os 11,8), a linguagem neotestamentária não cansa de aplicar a Jesus. Em Jesus, a ternura como compaixão se dá na acolhida dos publicanos e pecadores , na cura dos doentes e endemoninhados , no respeito e na valorização da mulher , na acolhida das crianças e dos pequeninos , no perdão oferecido aos inimigos e aos malfeitores .
Essa ternura de Jesus é o “amor do Pai no Espírito” . Ela aparece no júbilo e na angústia de Jesus, em sua doçura e humildade de coração , na solidariedade e na amizade que é como ele vive a condição fraterna e social de sua própria encarnação . Na humanidade e na liberdade de sua entrega final na cruz, Jesus não deixa de manifestar o seu Espírito de ternura. Na radicalidade e compreensão de seu ministério, não extingue o Espírito de ternura. Na sua santidade e proximidade, mostra-se detentor do próprio estilo de Deus, que é o Espírito de ternura. Seu próprio evangelho é anúncio da ternura de Deus, ternura que finalmente chegou e se fez próxima. É também em sua ternura que ele realiza suas críticas mordazes aos ricos, aos religiosos hipócritas, aos fariseus e mestres da Lei afeitos a uma religião de aparências, às deteriorações do Templo, da Lei, à diminuição da vida. É graças ao Espírito de ternura que Jesus tem vigor para enfrentar tudo aquilo que arranca ou diminui a liberdade humana, desdemonizando o mundo. É na ternura que Cristo é forte. É na ternura que sua potência é desdemonizadora e vitoriosa sobre a suposta onipotência de mestres e senhores que escondem, por sob as pompas e circunstâncias de sua religião, o coração duro como pedra. Assim, o Espírito de ternura é memória da Vida. Da vida de Jesus. E da vida como oposição a tudo aquilo que a diminui em sua dignidade.
4.4 Espírito de ternura
“O evangelho da caridade sem a ternura seria esvaziado do dinamismo afetivo, humano e humanizante, de simpatia e de empatia, que lhe é próprio” , do mesmo modo que a ternura sem a caridade seria esvaziada de seu sentido evangélico. A força do amor e o próprio amor como dom, a disposição de ser-para-o-outro, caracteriza a personalidade do Espírito e toma rosto na quênose do próprio Filho. O Espírito de amor-ternura é outro nome para o Espírito de Jesus e do Pai, para o Espírito que os une, para o Espírito que é dado aos seguidores do Cristo. Ele pro-voca a comunhão, a partir da ética do coração , pois torna novas as criaturas, libertando-as da lei que escraviza e mata (Gl 6,15), dando-nos um coração de carne, lugar onde deve brotar a justiça que supera à dos escribas e fariseus (Mt 5,20). A nova lei não é outra senão o amor, sem o qual toda a lei é letra morta. Esse novo coração, concedido pelo Espírito de ternura, é o acontecimento da nova aliança e se expressa por imagens incontornáveis como a do samaritano que se implica e se arrisca no cuidado terno do outro (Lc 10,1-10). Ternura é cuidado em ação; não é sentimentalismo barato, não é afetuosidade vazia, mas é corporeidade que se estende para fora dos contornos da própria pele, em favor de salvar a pele do outro. É espiritualidade ativa, é atividade contemplativa. Ela, como traço do Espírito, faz aparecer em nós o rosto crístico na relação com o outro, no risco de se fazer próximo .
O Espírito de ternura é o pedagogo do Pai; ele nos introduz no mistério do Cristo, colocando-nos nas trilhas de acesso ao E-terno. Ele seduz e provoca experiências consoladoras. Igualmente, na desolação, é o consolador que apoia o claudicante; pois mantém sob cinzas as brasas fumegantes que acendem de novo a chama da vida.
O Espírito de ternura é o dedo de Deus. Por ele, Deus inscreve sua palavra nos corações humanos, assinala marcas mnemônicas de gratuidade, que refazem, reerguem e consolam o peregrino. O dedo inscreve o amor-ternura como amor-para-o-outro, mas também amor-para-si mesmo: para o que se pode e o que se consegue ser, e para o que se pode fazer com as marcas que a vida foi imprimindo em cada um de nós.
A vida em abundância (Jo 10,10), tão querida por Jesus, é o grande desejo do Espírito de ternura. Ao reconhecer o que é ternura e que Deus, o E-terno, é terno para com o mundo, a experiência do Espírito se mostra como espiritualidade que gera vitalidade e que busca por vitalidade, uma vitalidade universal que se manifesta como “amor à vida” .
A experiência da vitalidade é, sobretudo, luta da vida contra a morte, presentificada nas lutas por libertação e libertação para a vida. O Espírito dá vida; ele atua e-ternamente para gerar libertação, entendida como liberdade com comunhão. O Espírito de ternura desperta as capacidades dormentes, provoca a ultrapassagem dos próprios limites humanos e abre para as possibilidades da vida.
E, como o Espírito de ternura é um futuro aberto, futuro a se abrir, continente das possibilidades da vida, deixamos o texto aqui, in-concluso, embora fechado. Aberto, justamente com uma citação do teólogo Jürgen Moltmann, sobre o despertar de experiências vitais que o Espírito promove. Ei-la:
Muitas pessoas possuem mais capacidades do que pensam possuir. Por quê? Julgamo-nos incapazes de muitas coisas só porque temos medo da derrota: ‘Quem tem muitos planos também terá muitos fracassos’. Mas quem se retrai para dentro de si próprio, ou quem se esconde por medo da derrota ou das reações das outras pessoas, ou por medo de perder suas relações, este não tem como conhecer suas próprias possibilidades. Deixa de dar vez a todas as suas possibilidades de vida. Mas então ele também nunca aprende a conhecer seus próprios limites. Só quando alguém tenta ultrapassar seus próprios limites é que terá condições de conhecê-los e aceitá-los .
O Espírito da ternura não paralisa, não enfraquece; ele é o avesso da paralisia, da covardia, do medo. Ele faz resistir ao malvado, lança para o risco, para a aposta... para a vida. Alguém se habilita?
_________________
1 DURRWELL, F.-X. El Espíritu del Padre y del Hijo. Madrid, Trotta, 1990. p. 72.
2 CONGAR, Y. El Espírito Santo. Barcelona, Herder S.A., 1983. p. 588-598.
3 CODINA, Victor. Creio no Espírito Santo: Pneumatologia narrativa. São Paulo: Paulinas, 1997. p. 200.
4 MAGGI, A. A loucura de Deus: o Cristo de João. São Paulo: Paulus, 2013. p. 42.
5 CODINA, V. “Não extingais o Espírito” (1 Ts 5,19): Iniciação à Pneumatologia. São Paulo: Paulinas, 2010. p. 25.
6 “Não ardia o nosso coração...?” (Lc 24,32)
7 CODINA, V. “Não extingais o Espírito” (1Ts 5,19): Iniciação à Pneumatologia. São Paulo: Paulinas, 2010. p. 31.
8 CODINA, V. “Não extingais o Espírito” (1Ts 5,19): Iniciação à Pneumatologia. São Paulo: Paulinas, 2010. p. 32.
9 CODINA, V. “Não extingais o Espírito” (1Ts 5,19): Iniciação à Pneumatologia. São Paulo: Paulinas, 2010. p. 46.
10 CARMO, Solange Maria do. La experiência del Espíritu Santo em la vida de Jesus y de los Apóstoles. In PRADA, Óscar Elizalde; HERMANO, Rosário; GARCÍA, Deysi Moreno (Orgs.). Iglesia que camina com Espíritu y desde los pobres. Montivideo: Amerindia, 2016. p. 173-187.
11 Santo Agostinho é quem dá relevo à noção de dom, fazendo dela o nome pessoal do Espírito Santo. São Tomás de Aquino buscará compreender como esse nome pode ser adequado em particular ao Espírito, já que Jesus também é dom do Pai. Argumenta então que o amor é sempre “o dom primeiro e original porque só mediante ele pode-se dar todos os dons gratuitos” (LADARIA, Luis F. O Deus vivo e verdadeiro: O mistério da Trindade. São Paulo: Loyola, 2005. p. 327). Jesus também é dado pelo Pai, mas no Espírito de Amor. Assim, Tomás de Aquino aproxima o dado escriturístico do Espírito como dom e a especulação agostiniana do Espírito como amor para mostrar que o nome Dom é não só um nome que faz referência à processão do Espírito, mas também à sua própria natureza. O dom do Pai é o Espírito que nos vem através de seu Filho. O Dom do Filho nos vem através do Espírito de Amor, dom do Pai. O Espírito é derramado sobre a carne humana como dom do Pai e do Filho. O Espírito é o dom do amor, sem amor não há dom; são a mesma realidade, portanto o que nos mostra o próprio amor de Deus e a economia da salvação que não é outra coisa senão a doação de Deus a nós. Mas por não ser apenas a processão, mas o próprio modo radical do Espirito agir entre o Pai e o Filho, cabe a ele como nome particular.
12 LADARIA, Luis F. O Deus vivo e verdadeiro: O mistério da Trindade. São Paulo: Loyola, 2005. p. 326.
13 GONZÁLEZ-FAUS, J. As 10 heresias do catolicismo atual. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 150.
14 GONZÁLEZ-FAUS, J. As 10 heresias do catolicismo atual. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 151.
15 GONZÁLEZ-FAUS, J. As 10 heresias do catolicismo atual. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 151.
16 GONZÁLEZ-FAUS, J. As 10 heresias do catolicismo atual. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 134.
17 A palavra sacerdote sequer é atribuída aos ministros, no Novo Testamento. A preferência é pelo nome presbítero, ou servidores, ou supervisores. GONZÁLEZ-FAUS, J. As 10 heresias do catolicismo atual. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 135.
18 GONZÁLEZ-FAUS, J. As 10 heresias do catolicismo atual. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 104.
19 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 29.
20 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 30.
21 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 30.
22 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 45.
23 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 48.
24 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 45.
25 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p.. 72.
26 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 75.
27 FORTE, B. Prefazione. In. F. Martirani. La civiltá della tenerezza. Milão: Paoline Editoriale, 1997. p. 9.
28 SALOMON, P. L’art du corps. Paris: Baudouin, 1976. p. 34.
29 GIBRAN, K. Le parole non dette. Milão: Paoline Editoriale, 1991. p. 164.
30 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 81.
31 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 90.
32 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 93.
33 GIBRAN, K. Il profeta. Milão: Paoline Edioriale, 1977. p. 85-87.
34 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 95.
35 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 138.
36 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 151.
37 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 158.
38 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 161.
39 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 163.
40 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 170.
41 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 172.
42 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 175.
43 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 185.
44 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 187.
45 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 221.
46 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 229.
47 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 246.
48 ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho” a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002. p. 259-264.
49 MOLTMANN, J. O Espírito da Vida: uma pneumatologia integral. Petrópolis: Vozes, 2010. p. 90.
50 MOLTMANN, J. O Espírito da Vida: uma pneumatologia integral. Petrópolis: Vozes, 2010. p. 179.
REFERÊNCIAS
CARMO, Solange Maria do. La experiência del Espíritu Santo em la vida de Jesus y de los Apóstoles. In PRADA, Óscar Elizalde; HERMANO, Rosário; GARCÍA, Deysi Moreno (Orgs.). Iglesia que camina com Espíritu y desde los pobres. Montivideo: Amerindia, 2016. p. 173-187.
CODINA, V. Creio no Espírito Santo: Pneumatologia narrativa. São Paulo: Paulinas, 1997.
CODINA, V. “Não extingais o Espírito” (1Ts 5,19): Iniciação à Pneumatologia. São Paulo: Paulinas, 2010.
CONGAR, Y. El Espírito Santo. Barcelona: Herder, 1983.
DURRWELL, F.-X. El Espíritu del Padre y del Hijo. Madrid, Trotta, 1990.
FORTE, B. Prefazione. In F. Martirani. La civiltá della tenerezza. Milão: Paoline Editoriale, 1997.
GIBRAN, K. Il profeta. Milão: Paoline Editoriale, 1977.
GIBRAN, K. Le parole non dette. Milão: Paoline Editoriale, 1991,
GONZÁLEZ-FAUS, J. As 10 heresias do catolicismo atual. Petrópolis: Vozes, 2015.
LADARIA, Luis F. O Deus vivo e verdadeiro: O mistério da Trindade. São Paulo: Loyola, 2005.
MAGGI, A. A loucura de Deus: o Cristo de João. São Paulo: Paulus, 2013.
MOLTMANN, J. O Espírito da Vida: uma pneumatologia integral. Petrópolis: Vozes, 2010.
ROCCHETTA, C. Teologia da Ternura: um “evangelho”a descobrir. São Paulo: Paulus, 2002.
SALOMON, P. L’art du corps. Paris : Baudouin, 1976.
-
56. Novas configurações dos sujeitos urbanos12.08.2024 | 10 minutos de leitura

-
 55. Silêncio e anonimato feminino, uma palavra sobre a importância da hermenêutica bíblica feminista14.05.2024 | 33 minutos de leitura
55. Silêncio e anonimato feminino, uma palavra sobre a importância da hermenêutica bíblica feminista14.05.2024 | 33 minutos de leitura
-
 52. O confronto entre Amós e Amasias03.07.2023 | 17 minutos de leitura
52. O confronto entre Amós e Amasias03.07.2023 | 17 minutos de leitura
-
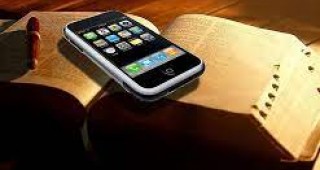 49. Evangelização e cibercultura: Desafios, limites e possibilidades17.04.2023 | 18 minutos de leitura
49. Evangelização e cibercultura: Desafios, limites e possibilidades17.04.2023 | 18 minutos de leitura
-
 361. Esperança17.02.2023 | 1 minutos de leitura
361. Esperança17.02.2023 | 1 minutos de leitura
-
 69. Adoção e Casais HomoafetivosNesse episódio versamos sobre a adoção de crianças por casais homoafetivos. Vale a pena conferir esse bate-papo.08.12.2022 | 1 minutos de leitura
69. Adoção e Casais HomoafetivosNesse episódio versamos sobre a adoção de crianças por casais homoafetivos. Vale a pena conferir esse bate-papo.08.12.2022 | 1 minutos de leitura
-
 351. Tua luz04.11.2022 | 1 minutos de leitura
351. Tua luz04.11.2022 | 1 minutos de leitura
-
 350. Um novo dia28.10.2022 | 1 minutos de leitura
350. Um novo dia28.10.2022 | 1 minutos de leitura
-
 337. Colo de pai01.07.2022 | 1 minutos de leitura
337. Colo de pai01.07.2022 | 1 minutos de leitura
-
 329. Salva-nos, Senhor05.05.2022 | 1 minutos de leitura
329. Salva-nos, Senhor05.05.2022 | 1 minutos de leitura
- 56. Novas configurações dos sujeitos urbanos12.08.2024 | 10 minutos de leitura

 55. Silêncio e anonimato feminino, uma palavra sobre a importância da hermenêutica bíblica feminista14.05.2024 | 33 minutos de leitura
55. Silêncio e anonimato feminino, uma palavra sobre a importância da hermenêutica bíblica feminista14.05.2024 | 33 minutos de leitura
 54. Transfiguração às avessas11.03.2024 | 34 minutos de leitura
54. Transfiguração às avessas11.03.2024 | 34 minutos de leitura
 54. Da Sacristia e da Secretaria à Academia17.01.2024 | 48 minutos de leitura
54. Da Sacristia e da Secretaria à Academia17.01.2024 | 48 minutos de leitura
 52. O confronto entre Amós e Amasias03.07.2023 | 17 minutos de leitura
52. O confronto entre Amós e Amasias03.07.2023 | 17 minutos de leitura
 51. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10,33-34)05.06.2023 | 20 minutos de leitura
51. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10,33-34)05.06.2023 | 20 minutos de leitura
 50. A relevância do silêncio no magistério de Francisco08.05.2023 | 32 minutos de leitura
50. A relevância do silêncio no magistério de Francisco08.05.2023 | 32 minutos de leitura
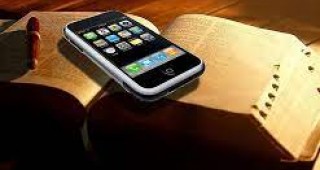 49. Evangelização e cibercultura: Desafios, limites e possibilidades17.04.2023 | 18 minutos de leitura
49. Evangelização e cibercultura: Desafios, limites e possibilidades17.04.2023 | 18 minutos de leitura
 48. Entre a continuidade e a ruptura: o discernimento na Sagrada Escritura27.03.2023 | 20 minutos de leitura
48. Entre a continuidade e a ruptura: o discernimento na Sagrada Escritura27.03.2023 | 20 minutos de leitura
 47. Judite, a viúva que salva seu povo07.11.2022 | 7 minutos de leitura
47. Judite, a viúva que salva seu povo07.11.2022 | 7 minutos de leitura




