11. Um novo paradigma catequético (2ª parte)


No Brasil, o país com o maior número de católicos do mundo, a memória cristã sinaliza sua despedida cedendo lugar de destaque a uma espiritualidade eclética e solta, uma fé movente e sem laços de pertença, fruto do processo de secularização que se impõe também em nossa sociedade. Apesar de muitos líderes católicos pensarem que a secularização ainda não tenha atingido nosso país pois permanece entre nós um resto de cristandade, percebe-se que a cristandade vai definhando e um ateísmo prático se instala na sociedade brasileira. Para quem está atento aos sinais dos tempos, já é possível profetizar: “O Brasil de amanhã será tão secularizado quanto a Europa”. Parece só uma questão de tempo. A exculturação da fé cristã já dá sinais de sua chegada no além-mar. É visível que não somente os países europeus perdem sua identidade cristã. Ainda que com outra vestimenta, a secularização tomou conta também do Brasil. Um sujeito secularizado, mas com rasgos de cristianismo, pulula essa Terra de Santa Cruz. A dificuldade de transmitir a fé se manifesta também em terras brasileiras, especialmente nas grandes cidades, e aquele refrão continuamente repetido “A realidade do Brasil é outra!” já não se sustenta depois do processo de globalização que fez do mundo uma grande aldeia. Como disse Joel Portela “num mundo globalizado, o Oceano Atlântico não é barreira para a mudança de época”[1]. Começam a se ouvir também no Brasil vozes que se preocupam com essas questões.
1 Discussão na Igreja no Brasil
Se a secularização em terras brasileiras ainda não se fez tão visível quanto em outros países do globo, poderíamos pensar que não há motivos para alarme. Consolamo-nos com a religiosidade católica que confunde nossa percepção pastoral ao camuflar os sintomas da crise da transmissão da fé cristã, dificultando um diagnóstico mais preciso do problema catequético. Sem essa percepção, torna-se complicado buscar uma solução eficaz para os desafios enfrentados, pois nem sabemos ao certo que desafios são esses, de onde vem etc. Aqui e ali deparamo-nos com um desânimo pastoral, mas os sintomas da crise não são claros. Vejamos alguns exemplos.
Quando tentamos novas iniciativas de reunir o povo nas paróquias, nem sempre encontramos resposta favorável. Então pensamos: “o povo não quer saber da fé cristã”. Mas, todos os dias, assistimos às multidões se ajuntarem em torno de festas religiosas (Nossa Senhora Aparecida, Círio de Nazaré etc.) ou eventos promovidos com a presença de padres-cantores e outros grupos religiosos. Se o povo não quer saber da fé cristã, por que essas agregações gigantescas em torno do cristianismo que a mídia não se cansa de noticiar?
Outro exemplo: Vemos nossas igrejas se esvaziarem de jovens e seu público envelhecer. A princípio pensamos: “Os jovens estão em outra, não querem saber da proposta do evangelho”, ou ainda, “não sabemos falar a linguagem do jovem”. Mas, ao mesmo tempo, assistimos a uma verdadeira “marcha juvenil para Jesus” em torno de grandes eventos como Jornada Mundial da Juventude, grupos carismáticos de jovens, comunidades de vida. Então nos perguntamos por que tantos jovens ainda engrossam a fila desses eventos.
Ainda mais uma tentativa, agora vista às avessas: Nossas igrejas estão lotadas, ou nossas festas religiosas agregam números nunca contabilizados. Então concluímos: “Nossa gente brasileira é católica; a secularização não faz parte da nossa realidade”. Mas, se é assim, por que tanto descaso com a vida cristã, com a palavra que a Igreja ensina e proclama, por que tanto sincretismo, por que tão pouca participação nas comunidades?
A resposta para essas questões não é imediata, pois envolve muitos parâmetros. Em nossa sociedade pós-moderna, marcada pela complexidade, qualquer resposta definitiva estaria imediatamente sob suspeita. Como uma doença rara, cujos sintomas não são claros e confunde até os mais especializados no assunto, assim é a situação pastoral da Igreja no Brasil. Nossa gente é muito piedosa e conserva ritos e práticas religiosas, lotando nossas igrejas em algumas ocasiões, mas essa religiosidade não garante laços de pertença nem comunhão com a fé cristã professada pela Igreja. O povo em geral busca os ritos, os sacramentos e as festas que fazem parte do patrimônio da fé cristã conservada pela Igreja, mas nem sempre busca a fé que a Igreja celebra, ensina e se esforça para viver.
Percebemos então que a forte religiosidade de nossa gente não nos permite concluir com clareza o efetivo papel da fé cristã em nossa sociedade e a situação real da religião católica no Brasil. Nossas análises estão ofuscadas pelas manifestações religiosas, mas estas não indicam necessariamente fé cristã ou pertença à religião. Parece contraditório, mas atualmente é possível pensar a instalação da secularização e a exculturação da fé numa sociedade sem que esta perca seus traços religiosos, sem que a fé cristã seja descartada da vida pessoal, sem que as igrejas sejam esvaziadas. Bem diferente da secularização europeia!
Na catequese esse drama se faz presente. E nossos catequistas já não sabem o que pensar. Tentemos uma metáfora! Os catequistas percebem que a maré catequética não está pra peixe. Mas os peixes não entraram em extinção. Eles continuam no mar da catequese, bem a nossos olhos, mas não entram na rede facilmente. Ficaram matreiros, desconfiados; tornaram-se ágeis e espertos os peixes. Entram na rede quando desejam, mas não se deixam abarcar por ela. São peixes miúdos que escapam pelo buraco da rede. Ou são peixes grandes e escolados, que comem a isca sem beliscar no anzol. Nunca são apanhados, apesar de serem alimentados por nossa isca.
Como isso se dá na catequese? Vejamos! Muitos pais ainda querem que seus filhos façam a caminhada catequética nas escolas católicas ou nas paróquias. Eles não saíram definitivamente da Igreja, nem querem que seus filhos cortem seus vínculos com a fé cristã. Mas não fazem questão que eles tenham um laço de pertença com a Igreja. Muitos querem que seus filhos recebam os sacramentos da iniciação, mas não desejam que seus filhos sejam inciados na fé, no compromisso que fé cristã enseja. Muita gente ainda participa da catequese paroquial ainda que nem sempre persevere na vida paroquial.
Então, nossos grupos catequéticos sentem que sua força vai sendo minada. Tem muito peixe no mar da religiosidade cristã brasileira, mas eles não fazem parte da barca de nenhuma Igreja[2]. Os peixes da contemporaneidade só pertencem ao mar e a nenhuma barca. Vão e voltam de barca em barca recebendo aquilo que os diversos evangelizadores de igrejas cristãs lhes oferecem. Eles não fogem das barcas. Nem rejeitam suas ofertas. Só não querem deixar o mar. E, porque o mar da catequese cristã está ainda repleto, não está clara no Brasil a falência de nosso sistema catequético, como é o caso da Europa em que os peixes foram nadar em outros mares, bem distantes do oceano cristão.
Com isso, a discussão sobre a urgência de um novo paradigma catequético surge tímida. O paradigma tridentino dos catecismos e o paradigma moderno da catequese renovada ainda parecem ter condições de responder às necessidades da realidade brasileira, apesar de percebermos os desafios gritantes que se impõem com força galopante. Não há nessa avaliação nenhum julgamento moral. Só a constatação de uma realidade contraditória, aliás bem própria de nossa sociedade tão multirreferencial e marcada pelo pluralismo. O desconforto que a catequese no Brasil – e a pastoral em geral – vive não tem causa única e nem sempre reclama uma solução. Mas, apesar de ser tímida a reflexão teológica em torno desse tema, nem por isso ela deve ser esquecida. A CNBB, com seus documentos, e alguns catequetas renomados do Brasil, com suas publicações, sinalizavam aqui e ali algumas intuições que já começavam a ganhar eco.
1.1 Documentos da Igreja
Os documentos da CNBB não trazem explicitamente a discussão sobre a necessidade de um novo paradigma catequético. Garimpando, porém, em alguns textos, percebemos indicações importantes que fazem pensar a crise catequética no Brasil e as mudanças sociais que reclamam novas respostas pastorais. Como nosso desejo aqui não é esgotar o assunto, tomamos apenas alguns documentos como amostra da situação geral.
a) Catequese para um mundo em mudança (1994)
Em 1994, logo após o VI Encontro Nacional de Catequese (4 a 9 de setembro de 1994) foi publicado o documento intitulado Catequese para um mundo em mudança[3]. Na primeira parte do livro, catequistas e catequetas mostram as muitas conquistas da catequese renovada desde a publicação do documento da CNBB, Catequese Renovada, em 1983. Logo em seguida, fazem notar alguns limites da caminhada catequética. No levantamento dessas falhas, os participantes apontam principalmente para o esquecimento do lado subjetivo e afetivo da pessoa, dito como “descuido com as questões ligadas à subjetividade e ao afeto” (n. 13). Sabe-se que esse esquecimento não foi por acaso. Foi por zelo apostólico, por medo de cair na armadilha de “uma religião sentimental, individualista, desencarnada” (n.13). Essas questões foram tomadas por alguns como “problemas de quem não tem outros problemas” (n. 13), uma válvula de escape para quem não quer ver de frente os desafios sociais tão gigantescos no país. Mas os catequetas e catequistas presentes no Encontro Nacional insistem que é preciso abrir os olhos para tais problemas, pois este é um clamor dos próprios pobres. E afirmam:
Os mesmos pobres nos mostraram que não é bem assim. Ninguém é só militante, somos todos pessoas com múltiplas necessidades. Precisamos todos de pão, de moradia, de saúde, mas precisamos também de atender ao lado emocional, afetivo, sexual, cuidar dos sentimentos, das relações pessoais. Uma catequese que esqueça isso não vai responder ao homem e à mulher de hoje nos seus anseios mais profundos (n. 13).
Estamos diante de uma afirmação corajosa dos responsáveis pela catequese. Ainda mais quando se pensa que, em 1994, ainda vigorava com força significativa no Brasil a reflexão teológica da teologia da libertação e a prática catequética da chamada catequese renovada, muito dedicada às ações evangélico-transformadoras (também presente no DNC, n. 13g), ou seja, a tão sonhada catequese libertadora. Essas constatações significam fracasso para uns. Mas para outros, tal afirmação já sinaliza a percepção catequética da chegada da pós-modernidade e a incapacidade de o paradigma moderno dar conta de responder aos novos anseios.
Outra dificuldade que o documento aponta relaciona-se com a cultura urbana. Constatou-se que os catequistas estavam, no máximo, preparados para trabalhar com o mundo rural, mas o mundo urbano e seus desafios continuavam sem respostas (n. 15-16).
Além disso, outro problema mostrava suas garras: o conceito de catequese continuou reduzido ao trabalho com crianças e jovens, sempre relacionado à recepção dos sacramentos (n. 18-19). Catequistas e catequetas lamentaram isso e já apontaram para a necessidade de ampliar o conceito de catequese.
Por fim, outro sinal de que o paradigma moderno estava sendo posto em xeque apareceu quando os catequistas afirmaram que faltava uma mística mais explícita na catequese, pois o trabalho catequético pressupunha a existência de uma mística que já não se fazia sentir. Mas o resultado não pareceu bom. Onde essa mística não esteve presente por meio de uma “profunda intimidade com o sagrado” (n.20), a catequese não teve avanços. O documento já aponta para a necessidade de uma catequese que não só aprimore a fé, mas que proporcione a experiência cristã de Deus.
Além dessas afirmações vindas da avaliação dos catequistas, notamos também algumas outras intuições importantes: a religião é questão de escolha e não algo herdado (n. 29); o indiferentismo religioso esperado não veio, dando espaço ao ressurgimento do sagrado (n. 31) etc. E o mais curioso: já se fala em mudança de paradigma (n. 35), com vistas a uma catequese mais urbana e menos rural.
b) Diretório Nacional da Catequese (2005)
O Diretório Nacional de Catequese[4] tem longa história. Desde 2001, por ocasião da II Semana Brasileira de Catequese, surgiu um clamor a favor de uma renovação das orientações básicas da catequese, presentes no documento Catequese Renovada, escrito em 1983. Depois de vinte anos do lançamento desse documento, a Igreja no Brasil sentia que o ritmo vertiginoso das transformações da sociedade exigia novos posicionamentos e novas perspectivas. Aliada à percepção da mudança epocal, encontrava-se também uma solicitação da Sé Apostólica às Conferências Episcopais, para que cada Igreja Particular formulasse, a partir do Diretório Geral da Catequese, suas próprias orientações para a catequese (DGC, n. 11). Surge assim o Diretório Nacional.
O Diretório Nacional caminha na mesma direção do Diretório Geral. Situa a catequese na missão evangelizadora da Igreja e lhe confere a tarefa de anunciar o evangelho em terras já evangelizadas, ou seja, em lugares que carecem de uma nova evangelização (cf. capítulo 2). Dentro desta perspectiva, o Diretório Nacional dá importância ao primeiro anúncio (cf. n. 30-33), também chamado de querigmático, lembrando que a catequese não pode suprimir esse primeiro momento, tomando-o por pressuposto como na cristandade (cf. n. 91). Nossa realidade brasileira também pede uma nova evangelização (cf. n. 29).
Se em outros tempos a catequese foi entendida como curso de preparação para os sacramentos, no Diretório Nacional começamos a vislumbrar mudanças (cf. n. 50). O fruto da catequese passa a ser fazer discípulos: “ajudar as pessoas a acolher a Palavra, aceitar Deus na própria vida, como dom da fé” (n. 34). A catequese supera seu conceito estreito e ganha uma amplitude que lhe possibilita expandir suas fronteiras para além da catequese com crianças e adolescentes (n. 96a).
A colocação clara da catequese no dinamismo missionário e evangelizador da Igreja, a superação do conceito de catequese como aprimoramento da fé, a percepção da importância de uma catequese que não se limite aos sacramentos, pensada para crianças e adolescentes, tudo isso abre portas para buscar outro paradigma catequético, pois se sabe que os paradigmas vigentes até então ficaram presos nesses limites. No Brasil, mesmo a catequese renovada ou libertadora – que tantos avanços fez! – não deu conta de extrapolar esses limites.
c) Documento de Aparecida (2007)
Apesar de o Documento de Aparecida extrapolar as fronteiras do Brasil, pois é um documento da Conferência Episcopal Latino-americana e do Caribe (CELAM) e não da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), vamos tomá-lo aqui por ter sido realizado em terras brasileiras e por causa de suas óbvias implicações para a Igreja no Brasil.
A primeira contribuição preciosa deste documento foi a chave de compreensão da realidade atual, descrita como “mudança de época” (n. 44), da qual ele partiu. Assumem os bispos que vivemos um tempo no qual “nossas tradições culturais já não se transmitem de uma geração à outra com a mesma fluidez que no passado” (n. 39). A transmissão da fé, que até então era tida como tranquila e certeira, passa a ser vista como um processo em crise, com tendência a desaparecer. À preocupação social das Conferências de Medellín e Puebla, acrescenta-se a preocupação com a crise de sentido. O teólogo Joel Portella Amado coloca a questão da seguinte forma: “Como pensar nas implicações sociais do Evangelho se até mesmo a relação com o Evangelho e sua transmissão já não se fazem, no dizer de Aparecida, de modo tão tranquilo?”[5]. Nossos bispos percebem uma realidade muito nova nos países latino-americanos e no Caribe: o cristianismo sai de cena e deixa de ser o eixo articulador de nossas sociedades.
Se é concreto o problema da transmissão da fé às gerações jovens e até mesmo o da manutenção da fé para os que já se fizeram cristãos (n. 365) pois o evangelho perdeu sua lógica sociocultural, irrompe imperiosa a urgência da ação missionária dos discípulos de Jesus (cf. capítulo 6). A proposta de Aparecida é clara: nosso trabalho pastoral deve “recomeçar a partir de Cristo” (n. 41). Este recomeço exige verdadeira “conversão pastoral” (n. 370), ou seja, a passagem “de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária” (n. 370). E isso inclui a catequese (cf. n. 297-298), que passa a ter a tarefa de promover “uma adesão pessoal e comunitária a Cristo” (n. 297) por meio de um trabalho incessante, permanente, e não mais por meio de um curso ocasional, reduzido a momentos prévios aos sacramentos (cf. n. 298). Além disso, advertem os bispos, “a catequese não pode se limitar a uma formação meramente doutrinal, mas precisa ser uma verdadeira escola de formação integral” (n. 299). Percebe-se, pois, que, apesar de o documento não falar de um novo paradigma catequético para a pós-modernidade, a conversão pastoral que Aparecida deseja obriga a catequese a gastar esforços nesse sentido.
1.2 Contribuição de catequetas e teólogos
A catequese brasileira, desde o Vaticano II, e a acolhida da renovação catequética no Brasil na modalidade da catequese renovada (também chamada de libertadora), têm sido objeto de cuidado e apreço de muitos catequetas competentes. Dentre os esforços percebidos, destacamos o incansável zelo de Bernardo Cansi, Inês Broshuis, Wolfgang Gruen, José Israel Nery, Juan Luis de Gopegui, Therezinha Cruz e Luiz Alves de Lima. Muitos deles, ainda atuantes, têm dedicado atenção vigilante às mudanças de nosso tempo e apontado para aspectos interessantes que os paradigmas anteriores não mais contemplam, sinalizando a iminente caducidade dos mesmos. Tomemos apenas alguns exemplos, pois nosso artigo não permite esgotar esses autores.
a) Ines Broshuis
Catequeta com olhar refinado, Inês Broshuis[6], em artigo publicado em 2001[7], percebeu os sinais dos novos tempos despontando. Notou o ocaso do paradigma moderno e intuiu características de uma nova catequese que pedia espaço no panorama eclesial. Vejamos:
Depois da forte ênfase, durante a ditadura militar, na libertação do povo sofrido, estamos encontrando hoje outros problemas típicos da pós-modernidade. São fortes os fenômenos como a procura do sagrado, a valorização da subjetividade, da liberdade, da afetividade, da espiritualidade, do diálogo e do ecumenismo. São todos aspectos que pedem atenção de uma catequese que deve estar em constante processo de renovação[8].
Seu olhar sensível ajudou a catequese no Brasil a perceber que sua missão não se reduz à responsabilidade de transmitir doutrinas, mas se estende até o campo da comunicação da experiência de fé: “A catequese deve ajudar os catequizandos a estarem atentos à experiência de Deus em sua vida”[9]. Afinal, a fé é uma adesão pessoal, uma entrega de si mesmo a Deus e, para atender seu apelo, lembra Broshuis, não basta saber de cor um elenco de verdades. Nesta caminhada, todo cuidado é pouco para discernir entre a autêntica experiência cristã de Deus e os sentimentos superficiais de emoção. Mas, para Broshuis, esse perigo do sentimentalismo ou da fé intimista não deve desanimar a catequese de proporcionar momentos de interiorização profunda, de momentos que levem a experimentar a carinhosa presença de Deus, de sua força amorosa. É claro que o encontro catequético deve também ajudar a descobrir Deus na aridez, nos sofrimentos da vida, nos mais pobres e marginalizadas e, certamente, encontrar Deus é bem mais difícil que nas emoções fortes e passageiras. Mas as emoções não devem ser desvalorizadas.
Ainda nesse sentido, Broshuis convida a catequese a ser menos racional e mais afetiva, dando crescimento e evasão à riqueza dos sentimentos humanos. A catequese não deve se esquecer que sua atividade parte da realidade de cada um, das experiências de vida dos catequizandos, inclusive da necessidade que cada um deles tem de amar e ser amado. Este aspecto novo deve ter seu lugar na catequese atualizada. E para reafirmar essa necessidade, Broshuis lembra a importância dos momentos celebrativos e orantes:
A catequese deve dar bastante atenção à parte celebrativa, como também à oração. A catequese é o lugar propício para fazer um verdadeiro espírito de oração, de silêncio, de meditação. Este é um aspecto, muitas vezes, esquecido. Como já vimos, a catequese deve levar a uma experiência de Deus. Os momentos de silêncio e oração são grandes meios para isto[10].
A catequeta não deixou escapar aspectos importantes da pós-modernidade. Sua sensibilidade feminina captou mudanças fundamentais que exigem a passagem de uma catequese formulada em tempos de ditadura militar para uma catequese pensada em tempos de pós-modernidade, em que a ditadura da vida interior, da iniciação cristã e da personalização se impõe com força total.
b) Wolfgang Gruen
Wolfgang Gruen[11] é catequeta experiente, com numerosas publicações na área. Tomemos como ponto de partida um artigo publicado em 2004[12]. O autor fala claramente que o Vaticano II e Medellín ainda não foram suficientemente assimilados, que esses encontros e documentos sequer tiveram a recepção merecida e já nos encontramos diante de novos desafios, ainda nem ventilados. Podemos ler nas entrelinhas que, antes de um paradigma teológico ou catequético ser totalmente assumido, desafios novos já o desbancam e apontam para outro paradigma. Grüen percebe a rápida mudança da sociedade. Para ele, a realidade mudou muito e cada uma das partes que a compõe não pode ser vista de forma isolada, mas precisa ser analisada de modo sistêmico; a realidade atual é complexa e não mais uma realidade evolucionária. Ora a forte mudança de uma realidade aponta para a mudança do jeito de catequizar. Conectado como é o catequeta salesiano, ela já usa a linguagem dos grandes sociólogos da Europa, falando de uma sociedade em crise, mas onde a crise é normal. Fala da união de dois conceitos que pareciam contraditórios: crise e normalidade.
Além disso, Gruen realça a necessidade de um investimento da catequese na espiritualidade. Afirma: “Na vida agitada, complexa, insegura, de hoje, as pessoas têm sede de vivências religiosas profundas, interiorizadas: têm sede de uma mística”[13] e lembra que o querigma, a essa altura, tornou-se “incompreensível até para a maioria dos cristãos”[14], sinalizando a necessidade de um primeiro anúncio.
c) Luiz Alves de Lima
Luiz Alves de Lima[15] é também catequeta de longa data. Seria impossível aqui neste artigo considerar todas as suas publicações. Escolhemos um artigo bem paradigmático, do ano de 2007[16]. Fala o salesiano que “vivemos em tempos mais de evangelização explícita do que em tempos de cristandade, quando evangelizar significava anunciar o Evangelho em terras distantes”[17]. Para ele, hoje,
o desafio da Igreja é a evangelização do mundo, mesmo em territórios de antiga cristandade, como é o caso também do Brasil. [...] Daí a necessidade de re-propor a essência do Evangelho, o querigma, o anúncio explícito de Jesus Cristo, pois já está superado o modelo de catequese típico da Igreja da cristandade, quando as famílias e a própria sociedade favoreciam a iniciação à vida cristã. Não existindo mais esse “contexto cultural cristão”, é necessário retomar o anúncio explícito do evangelho[18].
A catequese precisa, pois, reafirma Lima, assumir característica evangelizadora. O ardor evangelizador, seu núcleo querigmático, e o primeiro anúncio não devem ser desdenhados pela catequese, pensa o salesiano. Para ele, toda catequese deve ser evangelizadora. Essa mudança de concepção da natureza da catequese se apresenta como um verdadeiro desafio. Percebemos claramente nesse texto que Lima trabalha com o conceito amplo de catequese, superando o conceito específico de aprofundamento da mensagem cristã (catequese doutrinal) que, só teria sentido onde essa mensagem já fosse conhecida e assumida como opção por Jesus Cristo. E, se pensam alguns que o Brasil já é terra cristã, Lima lembra que estamos em ambiente que exige uma forte evangelização, nova evangelização ou re-evangelização[19]. E insiste: “Hoje a catequese precisa assumir as características da evangelização, tanto em sua dimensão de conteúdo (ou seja, o querigma, o anúncio essencial do evangelho) como em sua metodologia (o testemunho direto de vida, o ardor missionário, a experiência litúrgica e celebrativa)"[20].
d) Juan Ruiz de Gopegui
Juan Ruiz de Gopegui[21] é zeloso catequeta, com uma vida de dedicação a esse trabalho. Tomemos como base uma obra publicada em 2009[22]. O catequeta jesuíta não usa a expressão novo paradigma, mas fala de uma “catequese concebida não apenas como transmissão de uma doutrina ou de uma mensagem, mas como caminho – propedêutica – para a experiência de Deus no encontro com Jesus Cristo”[23]. Apontando para a importância da personalização da fé, afirma o jesuíta que “a catequese não atingirá seu objetivo se cada destinatário da catequese não chegar a reconhecer na figura de Jesus Cristo transmitida pela comunidade evangelizadora uma Palavra a ele dirigida por Deus, na singularidade de sua vida”[24]. E insiste o catequeta:
é preciso apresentar o Evangelho de maneira que apareça como “boa notícia” dirigida por Deus a cada um e exigindo uma resposta pessoal. Cada indivíduo deve reconhecer, no interior da própria existência, o chamado do Deus salvador que o chama para a conversão ao Evangelho de Jesus[25].
Sobre a nova realidade cultural, adverte Gopegui que a catequese não pode mais contar a transmissão da fé por meio do processo de socialização cultural. Assistimos à derrocada da cristandade exigindo de nós novas formas de transmissão. Na busca de novos caminhos catequéticos, Gopegui realça a importância de comunidades eclesiais que podem estabelecer as condições dialogais necessárias para a expressão pessoal da fé. E torna a dizer: “A catequese [...] deve conduzir a uma experiência de Deus”[26].
e) Joel Portella Amado
Apesar de não ser catequeta, o olhar criterioso e empático que Amado[27] lança para a pós-modernidade em busca de novos caminhos pastorais é precioso para nós. O autor percebe que estamos diante de uma mudança epocal de proporções gigantescas, mas, para ele, mudanças de época são profundamente libertadoras, propícias “para o crescimento pessoal e comunitário”[28], pois se, de um lado, elas removem seguranças, de outro, abrem horizontes à esperança.
Uma de suas grandes contribuições é a percepção do acelerado processo de secularização no Brasil e da consequente exculturação também na América Latina. Em seus escritos soa como um refrão a insistência sobre a mudança epocal, tirando de cena vários valores com os quais estávamos acostumados e sobre os quais assentávamos nossa pastoral.
Nessa mudança, o que sai de cena? “Saem do centro da cena os valores do grupo, da instituição e da tradição para assumirem importância quase que exclusiva os valores do indivíduo”[29], o que implica na passagem da aceitação da religião recebida na família ou sociedade para a escolha de uma religião que mais agrada. Além disso, o que é perene ou eterno dá lugar ao provisório ou momentâneo. Parafraseando Vinícius de Moraes, as coisas são eternas só enquanto duram. Percebe-se também que “os valores do sonho, da utopia e da causa maior cedem lugar aos critérios do imediato, do palpável, do sensível. A primazia da razão – até algum tempo tranquila em decorrência da modernidade – cede lugar à força do sentimento”[30], o que implica na passagem do que eu penso ou do que eu compreendo como razoável, para o que eu sinto ou experimento como bom para mim; passa-se do que pode ser explicado com argumentos lógicos para o que pode ser experimentado na própria vida com toda intensidade.
Estas mudanças, nota o pastoralista brasileiro, forjam um novo tipo de crente, com convicções muito mais fluidas e pertenças bem menos estáveis que o fiel cristão de outros tempos[31].
O novo crente possui características que de pronto ressaltam aos olhos. Ele tende à emocionalidade, ao imediato, à palpabilidade. Ele não é afeito a projetos longos, a causas cujos resultados não possa sentir sem delongas. Não se sente bem com normas que identificam jurisdição com geografia. Por isso, transcende-as com a facilidade e a rapidez com que afluem as emoções[32].
Então surge a pergunta: “Como trabalhar pastoralmente com esse novo sujeito que se apresenta no cenário da Igreja (inclusive na catequese)”? Esse novo crente, afirma Amado, “implora o repensar da experiência cristã, solicitando da teologia um labor indispensável e urgente”[33]. Trata-se de “apresentar, de modo claro e significativo quem é, no atual mercado de deuses, o Deus em quem acreditamos e sabemos ser o sentido único para a vida”[34]. Mas “os mecanismos pedagógico-pastorais que, durante séculos, possibilitaram a experiência cristã já não possuem fôlego sociocultural suficiente para exercer esta indispensável missão”[35], pensa o pastoralista. E ainda denuncia: “Os caminhos comumente utilizados para a transmissão da fé repousam sobre pressupostos culturais de outro momento histórico, em boa parte já ultrapassados”[36]. Para ele, o cristianismo perdeu sua lógica sociocultural, perdeu sua plausibilidade. Amado nota que hoje temos “graves problemas de transmissão da fé às novas gerações e de manutenção dos que se assumem como cristãos”[37], e que a pastoral da Igreja centra-se na doutrina, na moral e nos sacramentos, “supondo que a experiência inicial de encontro com Jesus Cristo tenha ocorrido nas instâncias socioculturais, entre as quais se destaca a família”[38]. Mas, lembra Amado,
centrar a pastoral nestes aspectos é semelhante à construção de uma casa que se inicia já com paredes, imaginando que outros, anteriormente, terão colocado os alicerces. A mudança de época lembra que os alicerces não foram plantados e, se o foram, não se fixaram adequadamente[39].
Está posto o desafio: ainda que a situação nos amedronte – pois estamos conscientes de que “não temos mais o que tínhamos, porém ainda não temos o que precisamos”[40] –, é preciso arriscar em outros caminhos pastorais e – por que não? – em outros paradigmas catequéticos também no Brasil.
2 Conclusão
Depois de conhecer documentos magisteriais e reflexões teológicas recentes, percebemos a necessidade de uma verdadeira “conversão catequética” também no Brasil. Bispos e teólogos, catequetas e catequistas, denunciam o fracasso de uma catequese que burila e aprimora a fé, como se ainda pudéssemos partir do pressuposto da fé como em tempos de cristandade. Pensadores auguram uma catequese que propõe a fé, numa sociedade secularizada, pós-cristã. Sonha-se com a passagem de uma catequese centrada nos sacramentos, ocasional, buscada por tradição religiosa, a uma catequese centrada no mistério pascal, permanente, que favoreça a personalização da fé.
A crise do sistema catequético nos obriga a pensar um novo paradigma. A transmissão da fé cristã em nossa sociedade pós-moderna não vai mais de per si, não flui naturalmente. Não podemos mais contar com a sociedade, a família, a escola no processo de transmissão da fé. A catequese atual, pensada para uma sociedade cristã, se vê exaurida e totalmente sem energias para cumprir seu papel. Experimentamos um verdadeiro fracasso do processo catequético, a quem foi atribuída a tarefa da iniciação. Apesar de alguns frutos ainda colhidos graças ao esforço e criatividade de tantos catequistas, é honesto admitir que o processo de iniciação cristã não atinge seus objetivos, não dá os resultados esperados. A catequese centrada especialmente na infância e pré-adolescência fracassou e deixou no esquecimento os adultos. A catequese com adultos, quando existe, é precária, ocasional, pouco iniciática, com linguagem inadequada e com lacunas preocupantes.
Não é por escassez de documentos magisteriais ou de reflexões teológicas que o processo catequético vai ficar marcando passo, sem sair do lugar. Por todo canto ressoam vozes insistindo na necessidade de mudança. Na Europa, bispos insistem na urgência da proposição da fé, na necessidade de ir ao coração da fé, de personalizar a fé etc. Juntamente com eles, catequetas ensaiam pistas para um novo paradigma catequético, mostrando a falência do sistema catequético atual.
E o Brasil, país com maior número de católicos do mundo, não está fora dessa discussão. Por aqui também assistimos a ensaios importantes, vemos intuições importantes, encontramos afirmações corajosas sobre o processo catequético e sobre a secularização que chegou à Terra de Santa Cruz. Realçamos especialmente a contribuição do CELAM com o Documento de Aparecida. A corajosa afirmação de que não podemos nos contentar com a pastoral da manutenção da fé nos impulsiona a pensar novas possibilidades catequéticas, a propor caminhos antes impensados.
Que fique claro: Nesse processo de procura de novos caminhos, não basta não guiar-se pelo paradigma de Trento. É preciso, também, ir além do movimento de renovação catequética que se iniciou depois da Segunda Guerra Mundial e foi levado à frente com o Concílio Vaticano II. Tal renovação catequética desembocou em um paradigma antropológico que teve sua função, mas parece já não dar conta mais dos desafios da pós-modernidade. Não são poucos os catequetas que apontam para a incapacidade de a renovação catequética nos moldes da modernidade proporcionar caminhos viáveis para nosso tempo, chamado pós-moderno. Fazemos coro com muitos catequetas que percebem que, apesar de todo avanço da renovação catequética, o problema catequético permanece sem resolver. Entendemos que o problema catequético de fundo continua esquecido, não foi ainda corajosamente enfrentado, porque o paradigma moderno levou em conta muitas necessidades do seu tempo, mas não considerou o déficit de iniciação cristã da sociedade ocidental que, desde o século XIX, atravessa uma verdadeira crise de transmissão da fé. Entendemos que é preciso arriscar em um novo paradigma, pois a mudança epocal pela qual passamos é tão profunda que exige uma mudança igualmente profunda do modelo de iniciação cristã. A iniciação cristã centrada nos sacramentos não dá mais conta de nossa realidade. Somos interpelados a desenvolver uma catequese da iniciação para os já sacramentalmente iniciados. Trata-se de realizar uma inovação na compreensão e na realização da transmissão da fé que modifique os moldes herdados que estiveram vigentes durante muito tempo; não bastam simples correções; é preciso uma verdadeira virada copernicana na catequese.
Insistimos na urgência de uma mudança radical em vista de uma nova orientação catequética que contemple nossos contemporâneos, cuja memória religiosa é tênue e confusa. Pensamos que a práxis pastoral tradicional, cujo eixo orientador são os sacramentos, não tem mais futuro, não é capaz de assumir uma autêntica opção evangelizadora, nem de responder aos desafios de nossa cultura.
_______________
[3] Cf. CNBB. Catequese para um mundo em mudança. Estudos 73. São Paulo: Paulus, 2004.
[4] Cf. CNBB. Diretório Nacional de Catequese. Brasília: Edições CNBB, 2006.
[5] AMADO, Joel Portella. Mudança de época e conversão pastoral: uma leitura das conclusões de Aparecida. Atualidade Teológica, v. 12, n. 30, 2008, p. 304.
[6] Inês Broshuis é holandesa, erradicada no Brasil há anos. Ela é leiga consagrada, autora de várias obras e com ampla experiência no acompanhamento da catequese brasileira.
[9] Idem, p. 378.
[10] Idem, p. 383.
[11] Wolfgang Gruen é padre salesiano, autor de várias obras publicadas. Foi professor na PUC-Minas e no ISTA durante anos, assim como assessor da dimensão bíblico-catequética da CNBB.
[12] Cf. GRUEN, Wolfgang. Novos sinais dos tempos para o cultivo da fé. Perspectiva Teológica, n. 100, 2004, p. 379-406.
[13] Idem, p. 392.
[14] Idem, p. 404.
[15] Luiz Alves de Lima, padre salesiano, é doutor em Teologia Pastoral Catequética, assessor do setor bíblico-catequético da CNBB e do CELAM, e membro do GRECAT (Grupo de Reflexão Catequética). Atualmente é professor do Instituo Pio XI e diretor e editor da Revista de Catequese.
[16] Cf. LIMA, Luiz Alves de. Novos paradigmas para a catequese no Brasil: apresentando o DNC. Horizonte Teológico, v. 6, n. 11, 2007, p. 9-40.
[18] Idem, p. 30-31
[19] Idem, p. 33.
[20] Idem, p. 38-39.
[21] Juan Ruiz de Gopegui é padre jesuíta, foi assessor da dimensão bíblico-catequética da CNBB, é professor emérito da FAJE e tem diversas obras publicadas.
[22] Cf. GOPEGUI, Juan Antonio Ruiz de. Catequese e experiência de Deus em Jesus Cristo. Perspectiva Teológica, n. 41, 2009, p. 317-344.
[23] Idem, p. 322. Grifos nossos!
[24] Idem, p. 322.
[25] Idem, p. 325.
[26] Idem, p. 330.
[28] AMADO, Joel Portella. A Igreja num mundo em mudança. Revista de Catequese, v. 34, n. 136, p. 59-63.
[29] Idem, p. 213.
[30] Idem, p. 213.
[31] Cf. AMADO, Joel Portella. Mas que loucura: o desafio de seguir Jesus no século XXI. In: RUBIO, Alfonso García; AMADO, Joel Portella (Org.) Espiritualidade em tempos de mudança: contribuições teológico-pastorais. São Paulo: Vozes, 2009. p. 17-32.
[32] Idem, p. 27.
[33] Idem, p. 29.
[34] AMADO, Joel Portella. Uma Igreja em mudança de época: Pontos relevantes para a compreensão da Igreja na segunda década do século XXI. REB, v. 70, n. 279, 2010,p. 569.
[37] AMADO, Mudança de época, p. 305.
[39] Idem, p. 577.
-
 500. “Misericórdia eu quero, não sacrifícios” (Mt 12,7).01.04.2025 | 1 minutos de leitura
500. “Misericórdia eu quero, não sacrifícios” (Mt 12,7).01.04.2025 | 1 minutos de leitura
-
 499. “Deus manifestou poder com seu braço: dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração”. (Lc 1,51)25.03.2025 | 1 minutos de leitura
499. “Deus manifestou poder com seu braço: dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração”. (Lc 1,51)25.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 457.Bendita memória21.03.2025 | 1 minutos de leitura
457.Bendita memória21.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 498. “A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador”. (Lc 1,46-47)18.03.2025 | 1 minutos de leitura
498. “A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador”. (Lc 1,46-47)18.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 456. Contra as leis injustas14.03.2025 | 1 minutos de leitura
456. Contra as leis injustas14.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 497. “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo sua palavra”. ( Lc 1,38)11.03.2025 | 1 minutos de leitura
497. “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo sua palavra”. ( Lc 1,38)11.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 455. Nas ondas da fé07.03.2025 | 1 minutos de leitura
455. Nas ondas da fé07.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 23. O que é a benção sacerdotal, é o mesmo que shalom?05.03.2025 | 3 minutos de leitura
23. O que é a benção sacerdotal, é o mesmo que shalom?05.03.2025 | 3 minutos de leitura
-
 496. “Não temas, Maria, encontrastes graça diante de Deus”. (Lc 1,30)04.03.2025 | 1 minutos de leitura
496. “Não temas, Maria, encontrastes graça diante de Deus”. (Lc 1,30)04.03.2025 | 1 minutos de leitura
-
 452. O que fazer07.02.2025 | 1 minutos de leitura
452. O que fazer07.02.2025 | 1 minutos de leitura
- 56. Novas configurações dos sujeitos urbanos12.08.2024 | 10 minutos de leitura

 55. Silêncio e anonimato feminino, uma palavra sobre a importância da hermenêutica bíblica feminista14.05.2024 | 33 minutos de leitura
55. Silêncio e anonimato feminino, uma palavra sobre a importância da hermenêutica bíblica feminista14.05.2024 | 33 minutos de leitura
 54. Transfiguração às avessas11.03.2024 | 34 minutos de leitura
54. Transfiguração às avessas11.03.2024 | 34 minutos de leitura
 54. Da Sacristia e da Secretaria à Academia17.01.2024 | 48 minutos de leitura
54. Da Sacristia e da Secretaria à Academia17.01.2024 | 48 minutos de leitura
 53. Deus Espírito, como delicadeza e leveza11.09.2023 | 28 minutos de leitura
53. Deus Espírito, como delicadeza e leveza11.09.2023 | 28 minutos de leitura
 52. O confronto entre Amós e Amasias03.07.2023 | 17 minutos de leitura
52. O confronto entre Amós e Amasias03.07.2023 | 17 minutos de leitura
 51. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10,33-34)05.06.2023 | 20 minutos de leitura
51. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10,33-34)05.06.2023 | 20 minutos de leitura
 50. A relevância do silêncio no magistério de Francisco08.05.2023 | 32 minutos de leitura
50. A relevância do silêncio no magistério de Francisco08.05.2023 | 32 minutos de leitura
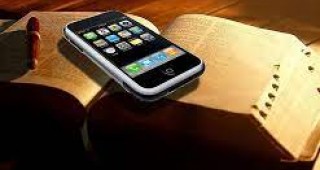 49. Evangelização e cibercultura: Desafios, limites e possibilidades17.04.2023 | 18 minutos de leitura
49. Evangelização e cibercultura: Desafios, limites e possibilidades17.04.2023 | 18 minutos de leitura
 48. Entre a continuidade e a ruptura: o discernimento na Sagrada Escritura27.03.2023 | 20 minutos de leitura
48. Entre a continuidade e a ruptura: o discernimento na Sagrada Escritura27.03.2023 | 20 minutos de leitura




